- Café
- O Animal Cordial (Gabriela Amaral, 2017)
- Predestinados
- Você Nunca Esteve Realmente Aqui (Lynne Ramsay, 2017)
- Mentes Sombrias
- Merlí
- Better Call Saul - Quarta Temporada, Episódio 1
- Christopher Robin: Um Reencontro Inesquecível
- Lámen Shop
- Shiki Oriori: O Sabor da Juventude
- Troca de Rainhas
- Escobar - A Traição
- Takara: A Noite que Nadei
- Gauguin: Viagem ao Taiti
- Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças
- Jejum Intermitente e Nutricionistas em Fúria
- O Centenário Que Fugiu Pela Janela e Desapareceu
- As Duas Irenes
- Meu Novo Parseador de Argc Argv
- Histórias que Nosso Cinema (Não) Contava
- Nico, 1988
- Animal Político
- George Orwell: Politics and the English Language
- O Papel da Genética na Mobilidade Social
- Ferrugem
- The Photoplay
- Como é Cruel Viver Assim
- A Luta do Século
- GetArg: the ultimate badass argv/argc parser
# Café
Caloni, 2018-08-01 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]"Café" é como se uma pequena janela se abrisse para o mundo e nós pudéssemos dar uma espiada em três histórias simples ligadas apenas pelo commoditie que leva o nome do filme. Não se trata de nada profundo, mas perene, pois apela para nossos sentimentos de tradição, nostalgia e esperança, uma tríade que nunca sai de moda. Como o próprio café, por exemplo.
As histórias se desenrolam como situações do cotidiano com rostos familiares. Temos o pai de família bondoso -- e imigrante, claro, para se adequar à pauta atual do cinema -- que ensina a tradição do café para seu filho lendo a sorte do pó no fundo da xícara e toma conta da sua loja de penhores, embora não com a mesma paixão com que cuida de um bule de prata, herança da família por gerações. Quando manifestações causadas por uma crise econômica agitam violentamente o bairro onde mora, ele é levado, assim como um jovem desocupado, pelos impulsos mais basais, o que acaba lhe colocando em uma situação onde pode perder tudo.
Já do outro lado do mundo, na China, temos o resgate dos valores de infância de um executivo que precisa voltar para sua terra natal e que acaba em um acidente se conectando com o passado enquanto precisa resolver uma questão difícil que o faz colocar na balança corporativa a ética e sua própria carreira. Um pouco novelístico, mas se parar para pensar todas as três histórias o são.
Como o jovem casal na Itália, a terceira história, que se vê na necessidade de mudar de cidade para ganhar a vida em um período difícil para os dois. O rapaz acaba encontrando motivação suficiente para usar seu conhecimento sobre café, inútil no mercado de trabalho, a serviço do lucro fácil, apesar de moralmente questionável. E para reforçar o tom de novela, ela fica grávida, e agora é questão de vida ou morte.
A moral, aliás, de "Café", passa por alguns caminhos que simplificam a realidade em prol dos seus heróis, pessoas humildes do dia a dia que se vêem na necessidade de fazer "justiça" com as próprias mãos, seja qual a definição de justiça estiver sendo usada. Demonstrando ignorância em economia, ou preferindo evitar entrar em motivos, passando para as consequências, o filme prefere empurrar este peso para os personagens e eles que lidem como acharem melhor. O único sendo julgado aqui é o sistema que permite que o amargo da vida e do café valha mais que sua iminente doçura.
O que há de mais rico no roteiro são os detalhes. Aprendemos através deles porque cada pessoa toma decisões difíceis sobre suas vidas. O imigrante, por exemplo, sabe que não pode contar com a polícia local, cheia de preconceitos. O rapaz italiano aprende que mesmo indo morar na capital de produção de café do seu país e sendo um barista profissional ele não consegue emprego em uma indústria que está é demitindo pessoas. E o executivo chinês possui informações suficientes para entender que milhares de vidas podem estar em suas mãos caso ele escolha o lucro em vez da segurança dos trabalhadores.
No entanto, como eu disse, essa janela se abre, mas é muito estreita. Difícil perceber o que o filme quer dizer com tudo isso. Sendo filmado basicamente narrando os acontecimentos e alternando entre as histórias a impressão é que não há pausa para reflexão. Todos estão agindo sob pressão imediata. A trilha sonora, de suspense, e uma câmera na mão, com cortes rápidos demais para reflexão, tornam "Café" no próprio efeito que a bebida traz, de euforia sem significado, de um alerta sem necessidade.
# O Animal Cordial (Gabriela Amaral, 2017)
Caloni, 2018-08-01 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]O Animal Cordial é um laboratório humano. Seu título já é uma contradição em termos, e durante todos os tensos 93 minutos do filme vamos encontrando o animal dentro do homem, mas nunca o cordial. Isso porque vivemos em tempos estranhos, onde a imaginação sobre o ódio atinge níveis utópicos, e nos transforma em indivíduos lutando por um espaço.
O laboratório em questão fica em um restaurante no final da noite que está prestes a fechar. Você sabe a cena. Funcionários ansiosos para ir embora, porque nunca quiseram estar lá em primeiro lugar (enxergamos apenas o chefe que retruca, não o trabalhador que não trabalha). O último cliente logo viram três, quando chega um casal sem a menor pressa e com todos os estereótipos de pedantismo adaptado para tupiniquim em dia, incluindo o dom inexplicável do cliente que quer provar que conhece mais dos vinhos servidos pela casa do que o próprio dono.
Daí de repente a panela ferve um pouco mais e a tampa já quente começa a tremer quando dois assaltantes entram no recinto para apavorar geral. A história também começa a se tornar surreal, pois nunca ouvi falar de bandidos "trabalhando" até essa hora da noite, e ainda por cima em um fim de mundo como aquele (para assaltar um restaurante decadente você está no fim de carreira nos assaltos). Também fica difícil acreditar no dono do lugar tendo uma arma e sabendo atirar, já que a sociedade brasileira se encontra atualmente como cordeirinhos obedientes esperando o lobo para os salvar.
Mas para surpresa geral este brasileiro no filme tem uma arma, sabe atirar e o sangue apenas começou a ser derramado. E você torce para que mais sangue bandido respingue e manche com o tom tinto de um vinho derramado todo aquele lugar. Não sem antes uma tortura leve, pois esses animais abusaram sexualmente das mulheres no recinto. Sim, é um escape fácil e divertido querer ver sangue, e o filme não quer apenas nos chocar, mas nos fazer identificar com a situação, o que gera sentimentos estranhos.
Note, por exemplo, como os personagens aparentemente não ligam de levar um tiro. Ninguém tem medo de retrucar o cara que está com a arma engatilhada. Esta panela que tremeu no começo, vamos descobrindo, é de pressão. E se o roteiro da diretora Gabriela Amaral não consegue nos dar pistas suficientes exceto uma fala ou outra para entendermos que ninguém está a caminho de salvar essas pessoas, ao menos ela sabe muito bem o que faz no cada vez mais bem vindo gênero do terror brasileiro. O gore não é gratuito, mas também não é sério. É uma catarse do absurdo. Planos próximos, claustrofóbicos, nos ajudam a ver o conjunto da obra: as emoções aflorando no rosto dessas pessoas. Emoções essas sempre negativas. Não há bonzinhos a esta hora em um restaurante de beira de bairro.
Há várias maneiras de interpretar este filme, e boa parte do divertimento do espectador é fazer isso sozinho. Apenas repare nos elementos que são colocados em cena, como termos vários ambientes no mesmo restaurante, como microcosmos dentro de um microcosmo. Há a cozinha e seus habitantes, o banheiro que serve de escape, o modesto salão e o balcão, lado a lado, que permite uma certa discrição, mas não muita, pois todos podem ver as ações e reações de quem se encontra lá. Essa atmosfera claustrofóbica que vai se formando e a falta de diálogos que esclareçam o que vai acontecer em seguida (nunca sabemos, isso é importante) faz nosso intelecto dar asas à imaginação, que está sob o efeito inebriante da violência.
Luciana Paes faz aqui um papel que foge do seu padrão de comédia (Sinfonia da Necrópole) ou algo mais leve, mas ela usa suas expressões e comportamentos estranhos em prol de uma personagem que é uma incógnita. Ela está apaixonada pelo dono do restaurante, e sua visão deturpada da realidade vira mais um espelho distorcido daquela realidade absurda que vai escalando cada vez mais. E ao mesmo tempo que o assunto é sério ela consegue espaço para pequenos alívios cômicos, como a forma animalesca que ela destroça o que parece ser uma coxinha de frango, ou a maneira lúdica com que tira as sobrancelhas de uma cliente e usa como bigode. Quase parece não haver roteiro lá, pois o talento de Luciana preenche as lacunas de sua personagem além da própria ficção.
Já Irandhir Santos, um sempre competente ator, tem pouco a acrescentar na história principal, mas serve de estopim e bode expiatório para que o dono do restaurante tenha um alvo fácil em meio ao caos. Irandhir é Djair, o cozinheiro, aparentemente talentoso, mas com má sorte. Ele é gay, ou parece. Tem cabelos longos, que exibe com um certo orgulho inconsciente, o que é mais um motivo para que seu chefe destrate o sujeito.
E Murilo Benício, como Inácio, o dono e chefe do restaurante, figura multifacetada que está sempre se defendendo do mundo utilizando a violência, seja no trato com seus funcionários ou no circo que depois se forma em seu restaurante. Seu personagem tem profundidade, mas vemos suas mãos atadas dentro de uma persona que não consegue enxergar outra forma de resolver seus problemas. Ele é o epicentro de um furacão de acontecimentos no filme, é força bruta que se mantém enigmática, difícil de verbalizar, mas que está lá para todo mundo ver.
Note como O Animal Cordial se beneficia do sistema de som do restaurante para traduzir o caos que se forma na cabeça das pessoas naquela situação, em uma seleção de músicas que diz muito sobre a atmosfera imprevisível do filme. Se trata de um trabalho alegórico que vem em forma de violência gráfica, quase uma catarse sem muitos motivos para serem enumerados. Quem assistir pode dar sua impressão sobre o que se trata. Ele pode se tratar de muitas coisas, mas como um restaurante contemporâneo, há um cardápio variado para você escolher por que agimos como animais em nossas cabeças e nos disfarçamos de cordiais em nossa problemática sociedade?
# Predestinados
Caloni, 2018-08-01 <cinema> <movies> [up] [copy]Este não é um filme sobre crianças. Elas mal aparecem no filme. O que aparece no filme são as reações de seus pais. E eles fazem parte do universo das comédias fáceis e sem implicações dramáticas, o que torna toda a experiência de ver seus filhos sendo cobaias de um experimento sobre a vida tão fascinante como ideia quanto frustrante na execução.
Estamos na década de 70, e o filme é narrado como se esta fosse uma história real. Pode muito bem não ser e não vai se perder nada. Exceto seu final. Explico.
É sobre um experimento que tenta provar que seres humanos são tábuas rasas onde a criação dos seus pais é determinante para as habilidades e talvez personalidade das crianças quando adultas. Nada é inato, de acordo com a pesquisa e a época onde ela é sugerida, e por isso o casal de cientistas consegue uma verba de um herdeiro rico que banca o patrono da ciência para criar três crianças -- um filho biológico e um casal adotado -- durante sua primeira década e assim ganhar notoriedade na academia.
O "experimento" é conduzido em uma casa isolada de tudo e de todos e com a ajuda de um assistente exilado russo (o ótimo Andreas Apergis), com visitas periódicas do patrono do projeto, Gertz (Michael Smiley) e sua secretária, Sra. Tridek (Fionnula Flanagan), que é a narradora do filme (um toque simpático do diretor/roteirista Emanuel Hoss-Desmarais). O pai, Ben (Matthew Goode), e a mãe, Catherine (Toni Collette), precisam não apenas vestirem o papel de pai e mãe, mas instruírem suas crianças a seguirem cada uma seu rumo "anti-natural" (o filho deles para artes, a filha adotiva de uma família de idiotas uma gênia, e o filho adotado de uma família com histórico de violência um pacifista).
Todos os acontecimentos durante todos os anos da infância das três crianças se resume em piadas de comédias de situação, não se concentrando nunca na história original sendo contada. Isso meio que comprova que este não é um filme baseado em fatos reais (pois não faz sentido) e que esta pode ser uma boa premissa para uma história, mas na prática vira o velho enlatado norte-americano.
# Você Nunca Esteve Realmente Aqui (Lynne Ramsay, 2017)
Caloni, 2018-08-04 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Situado em nosso inconsciente, nas profundezas de nossa sociedade pós-moderna, flutua a realidade e os intermináveis debates sobre o homem comum, esse que vive uma rotina em que, apesar de alguns percalços, tudo parece estar em relativa ordem e estabilidade. "Você Nunca Esteve Realmente Aqui" não fala sobre este homem, mas trabalha do outro lado da equação, onde a violência brutal marca as pessoas que nela vivem, e que para sempre deixaram de ser os mesmos. Sua realidade não possui essa estabilidade com alguns percalços de vez em quando. A realidade é o eterno percalço, com breves momentos, se tiverem sorte, de alguma calmaria.
O novo filme de Lynne Ramsay é de seis anos após seu grande hit (Precisamos Falar Sobre o Kevin) e demonstra como uma grande diretora (e roteirista) consegue explorar uma obra feita por palavras sem usá-las, o romance homônimo de Jonathan Ames. Este é basicamente um filme que dispensa diálogos, mas quando eles ocorrem, são econômicos e certeiros. Aliás, o filme em geral é curto e grosso, conseguindo em menos de uma hora e meia explorar uma janela de emoções na vida de Joe, um caçador de recompensas inusitado, e Nina, seu alvo a ser protegido.
Colocando o peso parcialmente nas costas de Joaquin Phoenix, que faz Joe, e o resto da responsabilidade em uma direção milimetricamente pensada em termos de enquadramento, movimento de câmera, iluminação, cortes, etc, a história segue uma estrutura atribulada porque na realidade estamos enxergando o que se passa na cabeça de Joe. Ele tem um trauma de infância que carrega para a vida envolvendo violência doméstica, o que muito provavelmente tem a ver com o que ele faz para viver: resgata meninas menores de idade do mundo da exploração sexual. Ele mora com a mãe, intepretada por Judith Roberts, que faz valer cada um dos seus poucos minutos em cena contruindo um ambiente familiar, mas estranho, onde mãe e filho vivem em harmonia. No começo do filme não é possível entender se Joe é o vilão e o herói, e Ramsay faz uma brincadeira com Psicose óbvia, mas não boba, pois traz ao espectador exatamente o teor de psicopatia que precisamos ter para entender a cabeça de Joe.
Este poderia ser apenas mais um filme sobre resgate, vilões repugnantes, violência gráfica, jogo de cena e personagens estilizados, mas Ramsay faz tudo parecer uma mistura de diferentes obras (Psicose, já citada, e Taxi Driver, ou até mesmo Drive, de Nicolas Winding Refn, são referências) e desse mix de sentimentos desabrochar uma síntese original, sagaz e pertinente para uma discussão contemporânea cuja camada inconsciente é justamente o que torna a história possível: ninguém realmente liga para as pessoas em volta, ou a máxima resumida em um dos poucos e valiosos diálogos "eu apenas trabalho aqui". Engraçado que o filme sabe que não é original, mas justamente por referenciar de forma tão clara as obras em que se inspira, e sem o qual aí sim soaria mero plágio, ele consegue não apenas uma "desculpa" de criar as mesmas situações e a atmosfera de descaso e consequente violência urbana, mas a expande e atualiza.
E por isso este não é um filme dos normais. Tampouco é uma desculpa para vitimizar os anormais. A câmera de Ramsay está inquieta desde o começo, revelando visualmente o que se passa na cabeça de Joe: flasbacks sobre seu passado, a infância traumática, uma passagem por uma guerra e seus pecados (provavelmente no Afeganistão, em uma conexão temática ágil e solta), os cortes rápidos, incongruentes, que se ligam apenas na lógica visual (passos que se completam em outra pessoa, um tapa na testa que vira uma batida de cabeça na porta), mas que estão soltos para trazer esse sentimento de desorientação, mas não soltos demais para perdermos o fio da meada e nem para que Joe não entre em parafuso eterno.
Joaquin Phoenix tem essa marca de conseguir relaxar e ao mesmo tempo deixar claro como está tenso por dentro. Ele possui aquele tique especial em que sabemos quando uma pessoa está inquieta (no caso dele até micro-expressões podem ser observadas em seu rosto impassível), mas ao mesmo tempo seu andar é preciso, seus movimentos são ágeis e ele não titubeia. Aliás, seus óbvios traços de psicopatia viram o seu ponto forte quando ele precisa entrar em ação com um simples martelo. Fantasioso demais? Bom, se ninguém acredita que algo é possível dá abertura para as pessoas que nem pensam nisso entrar nos lugares e simplesmente fazer o impossível. O filme nem cria sequências elaboradas de luta. O resgate em um prédio vira um recorte de câmeras de segurança em preto e branco que dão mais tensão do que se víssemos embates corpo a corpo e seus trocentos cortes habituais de hoje em dia. Do jeito que é filmado nossa imaginação vai preenchendo as lacunas, e a experiência se torna delirante na medida certa.
Já Ekaterina Samsonov, o que dizer dela? Aos catorze anos ela é jovem, como Jodie Foster em Taxi Driver, e assim como ela, linda como um anjo. Não é linda e fatal como Chloë Moretz em Deixe-me Entrar, pois isso seria fácil demais. Ela se torna uma incógnita que não questionamos, e esse é seu poder no ato final. Ramsay tem o poder de subverter as expectativas e ao mesmo tempo texturizar velhos clássicos com uma nova forma de se enxergar filmes de ação.
Um destaque merecido deve ir para o design de som, pois em um filme com pouquíssima trilha, a maioria ocasional de cena, a possibilidade dos menores ruídos e sons do ambiente serem relevantes para a criação da atmosfera não é algo que pode passar despercebido. Aliás, a própria questão do "ninguém liga" é estampada em nossos ouvidos com o barulho irritante de pessoas conversando em volta de ambientes públicos. A melhor cena do filme é quando um certo personagem dá um tiro em sua própria cabeça. Observe como a fantasia representa a realidade muito melhor do que ela própria. Eis a cabeça dos anormais servindo de guia moral mais eficiente do que toda a sociedade. O filme de ação do ano, tenso do começo ao fim, com uma mensagem poderosa que ecoa após seu final para os pensamentos dos mais atentos. Imperdível.
# Mentes Sombrias
Caloni, 2018-08-06 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Mentes Sombrias é uma distopia adolescente que entende a mente jovem como Goonies, mas que se recusa a amadurecer como Conta Comigo. Ambos os filmes citados são ótimas referências para onde este filme/saga poderia caminhar, mas apesar do ótimo começo ele nunca se aprofunda, deixando no lugar o já conhecido efeito Marvel, a produtora imbatível de histórias que se mantêm coesas pela característica peculiar de nunca terem um fim.
E por falta de um final a personagem principal, a jovem interpretada pela talentosa Amandla Stenberg, apesar de seu potencial, não consegue se desenvolver, nada naquele mundo é resolvido e não ocorre nada no ato final que nos dê o sentimento de "closure", ou seja, de que pelo menos um capítulo de uma história maior se fechou.
A história é simples (mas por algum motivo o filme sente a necessidade de verbalizar a todo momento como as coisas funcionam): ocorre algo com as crianças (Do mundo? Dos EUA? Fica incerto) onde metade delas morre e a outra metade ganha poderes especiais, que variam da super inteligência até o controle da mente de outras pessoas. Em um governo que em apenas seis anos se transforma em totalitário, guiado pelo medo das consequências de jovens estarem à solta com esse poder (vide toda a saga X-Men) logo os sobreviventes são enviados para campos de concentração, divididos por cores (de acordo com seu poderes) e os mais perigosos sumariamente executados. A heroína, Ruby (Stenberg) é do tipo mais perigoso, mas como você pode imaginar ela consegue se safar e encontrar um grupinho que se identifica e se sente parte de uma família novamente, formado pelo líder carismático Liam (Harris Dickinson), o nerd Chubs (Skylan Brooks) e a pequena Zu (Miya Cech).
A construção da confiança de Ruby nessa família disfuncional (e vice-versa) é o ponto forte da trama, que a joga em um mundo sem crianças e com a economia colapsando. O deserto que se observa nas ruas é o eco da solidão de uma menina que perdeu seus pais e que tenta agora aos 16 anos reconquistar seu lugar no mundo. Para os que conseguirem se lembrar, a atriz Amandla Stenberg foi Rue em Jogos Vorazes, e a "passada de bastão" simbólica de uma personagem secundária de uma distopia para a protagonista de outra distopia é sintomática.
A interpretação de Stenberg curiosamente lembra Jennifer Lawrence em Jogos Vorazes. Sua postura de nunca se curvar ante adversidades, mas de sentir o peso em suas costas e ao mesmo tempo se entregar à nova realidade em que é jogada, além de ter que construir alianças com totais estranhos é o que torna sua jornada empolgante e séria na medida certa.
E o mais impressionante do feito de Amandla Stenberg é que, se analisarmos bem, no fundo não há nenhuma história que de fato una aquele grupo. O que significa que o roteiro preguiçoso de Chad Hodge, que estreia no cinema, encontra um elenco acima da média para o que precisa. Sendo claramente adaptado de um livro como esses que encantam os jovens com mundos onde eles são os heróis (no caso o livro homônimo de Alexandra Bracken), seus personagens aparecem prontos e estereotipados, o que acontece quando se tenta adaptar uma obra literária em poucos traços para o cinema: Há pouco tempo em tela para muitas páginas introspectivas.
Observe alguns personagens secundários, como uma caçadora de recompensa que os persegue na estrada, interpretada por Gwendoline Christie, a Captain Phasma dos novos filmes de Star Wars, e que aqui leva o suntuoso nome de Lady Jane e sai atirando em crianças. Ela tem duas participações curtas no filme e serve apenas para apresentar um conceito. Detalhes como esse fazem o filme soar incompleto a todo momento. É como se ele fosse feito para os leitores fãs e não se importasse com sua independência narrativa.
Outro detalhe que torna o embate do bem contra o mal extremamente banal são os vilões, maiores ou menores. Alguns atores, como o doutor interpretado pelo televisivo Wallace Langham (CSI: Investigação Criminal) surge para termos uma cara conhecida na hora de ser revelado como as crianças mais poderosas podem ser usada como instrumentos do mal. E o que dizer da enésima participação de um general sádico, conhecido no filme como "O Capitão"? A frase dita por Wade Williams "vamos precisar de outro médico" escancara a farsa não intencional a qual o filme se entrega.
Por outro lado, o núcleo de "Mentes Sombrias" recebe um tratamento especial. Stenberg, Dickinson, Miya Cech e Skylan Brooks, todos recebem tempo de tela para nos identificarmos com esses jovens e sua jornada rumo ao desconhecido. Eles são sobreviventes no sentido literal da jornada, e sua busca por um suposto refúgio de jovens coordenados pela incógnita conhecida como Fugitivo (Mark O'Brien) passa por alguns momentos de calmaria que permitem que o filme respire e nos acostumemos com essa turma. Podemos quase sentir que o tempo passou em torno deles, e suas pequenas despedidas, como da mini-van, sugerem esse salto praticamente forçado rumo à fase adulta.
A direção da sul-coreana Jennifer Yuh Nelson, conhecida pelas sequências da animação Kung Fu Panda da Dreamworks, tem a virtude de nunca se colocar no automático. Sua forma criativa de demonstrar como Ruby consegue entrar nas memórias das pessoas, ou como ela apaga memórias como fumaça, é um atrativo estético a mais. O uso de cores primárias para representar os tipos de crianças poderia ser levado muito a sério e cair no ridículo, mas Yuh Nelson parece sempre nos lembrar pelas expressões de seus personagens que há um pano de fundo muito sério acontecendo para que a coisa desvirtue para um enlatado infanto-juvenil.
Porém, apesar da distopia social no mínimo curiosa e de personagens que se tornam aos poucos cativantes, Mentes Sombrias possui o velho problema do gênero de ser esquemático e sempre nos levar para o formato bem contra o mal maniqueísta, previsível e... interminável. O que é uma decepção para quem se dispõe a investir algum tempo na aventura e descobrir que ela está longe de terminar.
# Merlí
Caloni, 2018-08-06 <cinema> <series> [up] [copy]Merlí de Héctor Lozano segue uma cartilha de novela moderada, onde seus personagens nunca se transformam em algo diferente do que são, mas coisas do cotidiano acontecem a eles para movimentar uma história em torno de um professor de filosofia.
Sobre filosofia, a série não é didática porque suas aulas já não o são desde o princípio. Se quer aprender quem eram os peripatéticos (citados no piloto da série) que pesquise na Wikipédia. Elas também não são tensas, questão de vida ou morte, como parece a quem discute filosofia empolgado com os grandes temas do conhecimento humano. Mas na vida real é assim, e é aí que reside um dilema: esta é uma série correta sobre filosofia porque filosofia é basicamente como lidamos com nossos problemas reais (embora muitos debatam empolgados temas irreais de intelectualidade, se convencendo no processo de absurdos impraticáveis, como, por exemplo, que comunismo é uma boa ideia).
Mas se a historinha em torno de "Merlí" é tão pé no chão, por que é um porre assisti-la? Bom, em primeiro lugar porque os problemas dos seus personagens secundários não nos interessam, pois não foram apresentados; são estudantes genéricos. Em segundo lugar porque seu ritmo é lento, seguindo a cartilha novelesca, de esticar o drama até o fim dos tempo. E em terceiro lugar porque sua estrutura é esquemática; sempre esperamos que coisas aconteçam, os alunos gostam do professor, ele é polêmico, etc, mas nada na história nos leva a nos envolver com seus personagens. Nem o próprio personagem-título que, interpretado pelo talentoso Francesc Orella, é cativante, sim, mas não possui o desajuste social que se espera de alguém que veio para balançar os alicerces da educação na escola.
# Better Call Saul - Quarta Temporada, Episódio 1
Caloni, 2018-08-08 <cinema> <series> [up] [copy]O primeiro episódio da quarta temporada de Better Call Saul é uma aula de como tornar todos os personagens relevantes, ao mesmo tempo que ele usa nosso interesse em saber mais do universo de Breaking Bad (ele é um spin off dessa série) e também inicia uma nova mini-jornada para todos eles. Como não adorar essa série?
Boa parte desse feito se deve, claro, aos atores, que já conquistaram um merecido espaço em suas personas fictícias e que têm a chance de expandi-las. E a série se preocupa em nunca trair o que esses personagens já são na série anterior. Ninguém realmente muda nesse universo. Exceto um certo pacato professor de química de Albuquerque.
Mas essa não é sua série. Ponto para Vince Gilligan, que criou ambas e sabe que não pode trazer (ainda) o protagonista absoluto de uma para outra, pois arriscaria abafar os holofotes de todos por um puro fan service. Aqui o anti-herói é Saul Goodman, ainda em sua vida passada, o que já nos revela que Giligan acredita que este personagem também passou por uma mudança radical. Os últimos momentos desse episódio confirmam as suspeitas.
# Christopher Robin: Um Reencontro Inesquecível
Caloni, 2018-08-08 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Faz quanto tempo que você não tira férias? Acha normal isso? "Christopher Robins: Um Reencontro Inesquecível" chega aos cinemas afirmando que não, não é normal. Trabalhar sem descanso é uma morte lenta, uma hibernação forçada enquanto as coisas boas da vida ficam esperando para sempre. Ursinho Pooh nos faz lembrar de maneira bem humorada, despretensiosa e despreocupada do poder do ócio e de como é importante no dia a dia lembrar do que valorizamos mais.
Produtividade pode ser uma maldição. Vivemos nessa era da eficiência, onde humanos que viram custos são dispensados sem nenhuma cerimônia. A história se passa na pós segunda guerra, o que é uma época tão sombria quanto, com pouco lugar de trabalho para tanta gente e um futuro incerto lá fora. Os criadores do Ursinho Pooh, A.A. Milne e Ernest Shepard, assim como os filósofos gregos, sabiam valorizar o não fazer nada. Em sua época ele entendia a necessidade do ser humano em não apenas trabalhar, mas também relaxar e gozar de nossas privilegiadas vidas pós revolução industrial. Se não, qual o sentido disso tudo?
Acompanhamos o crescimento do pequeno Christopher Robin (Orton O'Brien) e seu distanciamento dos seus melhores amigos: Ursinho Pooh, Tigrão, Leitão, Ió (o molenga burrinho e seu pessimismo divertido). Sua infância no internato, a morte do seu pai e a guerra tornaram o coração de Christopher (já crescido como Ewan McGregor) distante. Sempre preocupado com o sustento de sua família, ele agora se vê sem sequer o fim de semana de férias para passar ao lado de sua esposa e filha (Bronte Carmichael, demonstrando que às vezes a seleção de atores-mirins não está muito inspirada). Tendo que ajudar seu alheio chefe (o exagerado Mark Gatiss) a cortar custos, em um plano que inevitavelmente incorrerá em demissões, sua esperança de redenção reside na volta do ursinho mais amado das histórias e grifes infantis.
O filme segue uma estrutura simples, mas muito, muito fofa. Da correria e competição do mundo moderno emerge a mágica Disney e um ursinho que aparece justamente onde é necessário. Não há muitas explicações de como essa mágica funciona, e essa é a decisão mais correta do roteiro. A mágica perderia todo seu efeito se você descobrisse como as coisas são. E por isso os amigos de Christopher simbolizam tudo que há de mais lúdico e sincero em nosso mundo. Não há malícia adulta nas piadas, mas justamente o contrário: a estranheza diante do mundo adulto. O que facilita acreditarmos que aquelas criaturas, agora mais velhas (note os pelos grisalhos de Pooh e Tigrão para se emocionar automaticamente), ainda são as mesmas, e que podem existir em nosso mundo, não ser apenas fruto da imaginação de alguém com alto nível de estresse.
A animação dos bichinhos é impecável. Não apenas a textura de pelúcia, mas os movimentos dos seus corpinhos são um misto aceitável entre desenho e realidade. E a dublagem é o ponto mais forte. O intérprete de Pooh, Jim Cummings (que também faz o Tigrão), por exemplo, usa uma entonação envelhecida, adulta até, mas ao mesmo tempo sem inflexões de adulto (como cinismo, sarcasmo). Há uma certa reverência saudável pelo conteúdo original, principalmente a animação, que consegue realizar a ponte para o real devido a várias virtudes técnicas.
A fotografia, por exemplo, não exagera nas cores, mas quando se trata de um balão vermelho... bom, ele é vermelho mesmo, com todas as forças! E a direção de arte transforma até uma prateleira na cozinha em uma obra de arte que une o real com o nostálgico. E note como, apesar de ser um filme cheio de efeitos, a direção de Marc Forster privilegia planos mais fechados, que favorecem a interação de Christopher com seus bichinhos. Isso ao mesmo tempo que favorece o clima de intimidade entre velhos amigos também demonstra uma confiança inabalável do poder da computação gráfica nos dias de hoje.
Com essa premissa moralista sobre como o trabalho nos escraviza, por mais improvável que pareça, "Christopher Robin" consegue se desvencilhar muito bem do velho clichê Disney e suas lições de moral no final do filme, e isso é graça à entrega incondicional de McGregor e dos dubladores, que concretizam para o mundo real um pedaço de fantasia irretocável que, assim com O Pequeno Príncipe, nos diz o essencial sem conseguirmos de fato ver onde isso está.
# Lámen Shop
Caloni, 2018-08-08 <cinema> <movies> [up] [copy]Lámen Shop é um filme sem roteiro. O que praticamente diz tudo o que você precisa saber sobre os defeitos incorrigíveis de um filme onde o espectador não consegue enxergar o que move seu protagonista, nem qual o grande conflito que ele tenta resolver durante uma história que foi feita para chorar (e consegue), mas que não entrega profundidade alguma nesse choro.
Dirigido por Eric Khoo em uma co-produção de Singapura, Japão e França, este filme fala sobre comida e de certa forma é uma porta de entrada para a diversidade cultural do pequeno país que fica incrustado do lado da China. Também fala sobre valores milenares de família, uma história atribulada por conta da guerra, um filho buscando a origem de sua mãe enquanto aprende suas receitas escritas em um pequeno caderno que ele folheia logo após seu pai falecer.
Tudo neste filme é incógnita, mas ele não é mal feito. Conseguimos ter uma certa ordem no que se passa. O problema é que não é muito o que acontece. Filho viaja para a terra da mãe. Ele procura seu tio, descobrimos quando ele já chega lá. Ele também quer saber por que nunca ouviu falar da avó (o que, se prestar atenção, não faz muito sentido quando descobrimos que o desentendimento em família partiu dela, não de sua mãe). Ao mesmo tempo há um certo mistério sobre um prato típico da ilha que envolve chá sendo servido em sentido horário e mais de 10 horas de cozimento.
A história por trás do filme possui boas ideias para ser estruturada, mas a sensação de que falta alguma coisa irá te perseguir pelos 89 minutos do filme. De qualquer forma, ele agradará o espectador médio, que deve, sim, chorar muito em alguns momentos do filme, mas sem entender muito por quê, ou extraindo significado de sua própria experiência. Os mais novos irão gostar das receitas; os mais velhos, das mensagens que se pode tirar dos cozinheiros no filme.
# Shiki Oriori: O Sabor da Juventude
Caloni, 2018-08-12 <cinema> <movies> [up] [copy]Este é um filme que dá sono. Aliás, estes são três curtas. Que dão sono. Mas apesar dos bocejos e das pescadas, há algo de muito bonitinho acontecendo em Shiki Oriori, lançada pela Netflix que se orgulha em anunciar que é do mesmo estúdio de Your Name, o ultra-pop sucesso de Makoto Shinkai. Aqui nós temos três diretores diferentes trazendo uma percepção temática parecida entre as três histórias: a nostalgia de algo perdido em nossa juventude e que na fase adulta bate à porta.
Tendo trabalhado no departamento de animação de um curta e um longa de Shinkai, Yoshitaka Takeuch é o mais veterano dos três, que não assinam os segmentos (ou assinam coletivamente, ficando indefinido se cada um é responsável por um segmento). A animação segue uma paleta e conceitos semelhantes, com idas e vindas entre passado e presente. Há música empolgante e personagens bem-sucedidos, mas, cada um à sua maneira, melancólicos. Dois dos curtas possuem finais felizes, e são os que mais soam fake. O primeiro, sobre lámen, mais autêntico, chega a iluminar um pouco o coração. E a barriga.
O que dá sono mesmo é a falta de conflito. As histórias são quase que experimentais, pois vão descrevendo uma situação cujas memórias servem de guia moral para entendermos para onde o protagonista deve ir, mas nunca nos revelando o que é que falta para que ele se complete (com exceto do terceiro). Mas ao acompanharmos apenas memórias ao ar fica difícil prestar atenção em todo o conteúdo, já que as únicas informações relevantes estão pontualmente localizadas. Com isso as estórias ganham um ar de diário, mesmo, de lembranças pessoais que alguém começou a ditar ou havia anotado em algum lugar para fazer um curta assim que a Netflix pagasse. Há algo amadorístico que não encanta, mas desaponta, e algo estilizado que foge um pouco do contexto.
O resultado é uma mistura que não dá certo. Apenas entretém os mais atentos, e faz dormir os mais cansados do mesmo. Não inspira os sentimentos de seus heróis porque eles estão incompletos. São pedaços de emoções flutuando entre as pessoas. Mas se alguma historinha sem querer coincidir com algum momento pessoal seu em sua juventude, pode esquecer tudo que eu disse: ele vale a pena ser visto com o coração.
# Troca de Rainhas
Caloni, 2018-08-13 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Troca de Rainhas descreve um momento pontual e peculiar da história da monarquia, de maneira burocrática, estática, quase parando. Os eventos se sucedem lentamente e seus personagens já sabem automaticamente o que fazer, pois "assim está escrito". Sim, são as tradições os verdadeiros monarcas: rituais que ordenam que crianças se casem para evitar guerras desnecessárias. As tradições atravessaram séculos imunes, sob as maiores adversidades, e sabem mais que qualquer rei ou rainha que já passou pela coroa o que deve ser feito.
Dessa forma, é muito didático que nesta passagem de bastões as crianças e jovens sejam "protagonistas". Tendo grande poder ao mesmo tempo que nenhum, elas devem agir conforme os adultos ordenam (estes também, automaticamente) e perdem a juventude quase de graça, pois é tudo simbólico sob o ambiente pré-puberdade dos nobrezinhos. A ocasião é na França, 1721. Seu regente (Olivier Gourmet), querendo terminar a guerra com a Espanha, oferece um casamento duplo entre suas famílias, todas crianças entre 4 e 14 anos.
Inicialmente se torna curioso observar como cada jovem se comporta de maneira diferente diante do fardo de comandar um país ou ser a esposa do comandante. Enquanto os espanhóis buscam encarar seu destino da melhor maneira que acharam, os franceses são a parte revoltada da equação. Mas, como veremos, desejos humanos são muito estéreis quando se trata de seguir a lei de um país que não tem mais recursos para mandar seus súditos roubar e saquear seus vizinhos.
Apesar de constituído por personagens sem a menor empatia, e ser muito incerta a posição do protagonista da história, a cereja do bolo sem dúvida é a pequena Maria Anna Victoria (Juliane Lepoureau), uma menina de quatro anos e bochechas coradas, que é tirada do seu mundo de bonecas para se tornar a esposa de faz de conta, o que nos traz uma sensação de cumplicidade com o horrível. Nós sabemos que uma criança vai levar as coisas com a seriedade de uma brincadeira, mas também sabemos que os adultos também. Só que os adultos levam a vida a sério demais. Difícil saber se a criança comprou toda proposta ou, o mais provável, ela sempre estará em seu próprio mundo. Ela é delicada e sua história real provavelmente uma incógnita.
A produção possui um encanto particular, que é usar trilha sonora apenas quando algum evento é concretizado. Todo o resto é apenas o silêncio sepulcral dos castelos, em um clima de luto e em uma edição de som que nos deixa ainda menos à vontade, com passos pesados no assoalho de madeira. O resultado é particularmente desagradável quando ouvimos exemplos de crueldade vinda da boca das crianças, que possuem um status que lhes permitem agir sem consequências ao mesmo tempo de não possuir malícia o suficiente para se desvencilhar do controle absoluto de seus regentes. É vilania inocente que nenhuma música conseguiria capturar.
Aliado a isso, note como a câmera no início insiste em nos apresentar a posição dos criados como testemunhas de tudo que ocorre em família. Em determinado momento a avó de uma das jovens pede sua cadeira de urinol à mesa de jantar e começa a discursar sobre o que sua neta deve fazer para salvar seu país. A cena se torna um momento íntimo no começo, pois apenas vemos as duas à mesa, para apenas no final o plano se abrir e vermos atrás delas meia-dúzia de serviçais. As aparências de momento comum aliada a uma pomposidade da família real nos entrega a melhor dissonância com a realidade do filme.
Ambientado em diversas locações apresentadas junto com a data e os eventos, "Troca de Rainhas" poderia ser uma inspirada e crítica visita a uma época onde os costumes eram muito diferentes dos atuais, mas se transforma em um diário de bordo em forma de filme com pouco ou nada a oferecer no quesito criatividade. Pelo menos é bonito.
# Escobar - A Traição
Caloni, 2018-08-14 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Escobar - A Traição é mais uma visita ao inesgotável mundo de Pablo Escobar, este cabrón que construiu um império em cima de outros impérios e teve que pagar as consequências. Uma história tão impactante e dramática como essa (porque é real) já foi explorada inúmeras vezes na ficção, e recentemente ganhou séries e filmes. Então, qual a grande novidade dessa vez?
A novidade, creio eu, fica por conta de Penélope Cruz e Javier Bardem, que fazem respectivamente Virginia, a colombiana bem sucedida e famosa em terra estrangeira e cujo livro inspirou este roteiro, e Pablo, este colombiano novo rico que se orgulha de sua terra e que comprou a briga contra todos que se meterem em seus negócios, sejam concorrentes, a polícia, os políticos ou sua amante.
Não é muito difícil caracterizar Pablo Escobar, este senhor bigodudo de meia idade como rei da barriga e uma forma de se portar que demonstram uma pessoa comum que se equilibra na onda de dinheiro e poder como magnata da cocaína enquanto tenta zelar pela sua família à sua maneira. Mas Javier Bardem vai além que o lugar-comum de tantos intérpretes. Podemos começar notando (e como não notar?) sua magnífica barriga em forma de banheira, que faz questão de exibir sempre que pode, andando com a camisa aberta. Além disso, uma cena em que sai correndo pelado, apesar de desnecessária, e acredite, mesmo que você seja fã do físico de Javier, não há nada para se ver aqui, pode ser utilizada para mostrar que o ator (e produtor) leva seu papel a sério. Sua cara inchada e levemente suada, com os olhos beirando as lágrimas, atravessa neste filme o caminho que vai do topo do mundo para sua queda fatal, em uma construção de personagem que se baseia em nuances meticulosas.
Observe como seu estado de humor, por exemplo, vai aos poucos mudando de brincalhão e confiante para irritado e com ataques de raiva cada vez mais frequente (e dê poder a um homem temperamental e logo veja os corpos começarem a cair). Veja também como seu olhar, geralmente de cima para baixo, começa aos poucos a cambalear junto com suas costas arqueadas, sua respiração mais dificultada, a olhar cada vez mais para o chão. É uma mudança de postura completa, mas sutil, que vale conferir durante o longa.
Já Penélope Cruz sofre um pouco com sua personagem. É óbvio que os dois se enamoram por terem afinidades que vão além da origem ilícita do seu dinheiro. Quando ela observa as casas que Pablo mandou construir para o povo da favela onde morava, ela, quase como defendendo um governo, para de questionar de onde vem os recursos de seu namorado e apreciar o fim para o qual ele é usado. E claro, ela se apaixona no momento em que ele enche sua mala de dinheiro e pede para que não economize. Ela também é uma nova rica, mas depois de Pablo ela parece sentir que subiu mais um degrau na escala de poder e fama. O mais curioso é como ela considera isso naquele momento algo bom.
Por isso mesmo sua moralidade deveria ser questionada, mas não é. Narradora do filme, ela surge como a protagonista na história, sem praticamente muitos arranhões. Autora do livro que inspira o roteiro, Virginia Vallejo é a heroína de um filme onde sua personagem é apenas uma peça em um grande quebra-cabeças de interesses políticos. Ela está na posição errada para segurar toda a história ou ser fundamental. Primeiramente porque ela não é humana, mas uma ideia. Vista apenas com Pablo ou nas telas, não temos muitas informações sobre quem é a mulher por trás de suas ações, e sua influência no namorado é quase nula. Dessa forma, o filme rapidamente se transforma em mais um estudo de personagem de Escobar.
Da mesma forma a participação quase apagada do talentoso Peter Sarsgaard (ele é o vilão no remake de Sete Homens e um Destino de 2016) é meramente figurativa e serve apenas como uma ponte entre Virginia e Pablo. E nem Penélope Cruz consegue convencer-nos que sua personagem está sinceramente interessada em um agente da CIA. Ou talvez isso diga um pouco mais sobre Virginia e que o filme insiste em encobrir.
Traçando um rastro de sangue e violência sem qualquer pudor o diretor Fernando León de Aranoa do ótimo Um Dia Perfeito aqui estabelece tão bem a mise-en-scene de suas locações (com destaque para a prisão de Pablo e um plano-sequência envolvendo um helicóptero no meio da floresta) e sabe estabelecer seu visual de maneira tão significativa (basta um movimento de câmera e ele coloca a periferia em conflito com a contrastante Medellín) que apenas rivaliza com o roteirista Aranoa, que consegue inserir comentários políticos sem soar prolixo ("elefantes estão bem aqui na Colômbia porque não leem jornais") e coloca na boca de seus personagens comentários sagazes que mantém uma dinâmica divertida, especialmente do casal principal. Para isso ele se beneficia da excelente química entre Bardem e Cruz.
Pecando talvez apenas por uma trilha sonora excessivamente exagerada na tensão, tomando aspecto de um policial embora a princípio e por projeto estejamos falando da passagem de Virginia na vida do traficante, "Escobar - A Traição" passa voando apesar de sua pouco mais de duas horas, e coloca mais um ponto de vista sobre uma história que está incansavelmente sendo contada. Talvez a novidade dessa vez seja que, independente de qual história ele está contando, este é um filme que eu sairia de casa para assistir.
# Takara: A Noite que Nadei
Caloni, 2018-08-16 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Largue essa pressa e esse jeito adulto de ser. "Takara - A Noite que Nadei", apesar de curto, é lento. Bem lento. Isso porque ele explora o tédio através dos olhos de uma criança, ao mesmo tempo que se transforma em um conto para refletirmos sobre liberdade nas mãos de uma criança.
E o que o filme franco-japonês dirigido por Kohei Igarashi e Damien Manivel nos entrega é uma experiência minimalista, mas cheia de enquadramentos evocativos. Cercado de amontoados de neves por todos os lados, a cidade soa ameaçadora para uma criança de poucos anos sozinha neste frio do lado de fora. Mas ao mesmo tempo ao vermos que ela está bem se transforma em uma poesia sobre o poder da iniciativa humana em trilhar seu próprio caminho, por mais pequenino que seja o humano e por mais simplório que seja este o caminho.
E para Takara, seu caminho é simples: filho de um trabalhador de uma peixaria, ele quer entregar o desenho que ele fez de um peixe para o pai. Por isso ele desvia da escola. Já era um plano premeditado, percebemos, quando ele saca de seu bolso uma mexirica para comer no caminho. O menino de uns cinco anos de idade tem tudo sob controle apesar de ter perdido a luva de uma mão.
A direção dupla do filme orquestra a experiência sem um roteiro definido. É uma história simples e direta sem nenhum diálogo. Isso facilita para os não-falantes de japonês, pois não há o que ler, mas apenas observar. E o que vemos são momentos dos mais inspiradores. Pensando como adultos, ficamos o tempo todo preocupados, e o filme sempre tenta nos mover para o significado contrário dessa jornada: perceba a beleza inerente que é uma criança, com seu pouco discernimento, tentando atingir seu objetivo.
A "interpretação" de Takara Kogawa é direta. Quase o vemos olhando para a câmera em alguns momentos. Quatro personagens existem nesse filme, e são todos da mesma família (no filme e na vida real): o menino, a irmã, pai e mãe. Esses últimos três quase não aparecem, apenas pavimentam o caminho para que o garoto faça seu show particular. O acompanhamos, e se tivermos paciência, seremos recompensados por um arco minimalista e que entrega 78 minutos que terminam em uma paz interior e um sentimento de leveza. Eis a alma de uma criança capturada por lentes apontadas apenas para ela.
# Gauguin: Viagem ao Taiti
Caloni, 2018-08-17 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]A passagem de Gauguin pela Polinésia não é apenas a história de um homem do mundo moderno indo resgatar sua origem selvagem, mas um artista buscando entender sobre as perdas envolvidas nesta transição.
Vincent Cassel como Gauguin se entrega ao ato de se transformar no homem branco vivendo como nativos, mas sem nunca deixar de lado as telas e tintas que sempre revelam que sempre será eternamente um observador. Seu ressentimento pela miséria e sua indignação pelo seu amigo nativo se transformar em um mero comerciante demonstram a triste, inconsolável verdade que uma vez que se viveu sob as asas da civilização do estilo europeu, rico ou pobre, nunca mais se volta à inocência da vida simples e sincera ao lado da natureza.
Este não é um filme muito feliz. Ele é frustrante na medida em que entendemos que uma vez que há contato entre duas culturas uma delas irá se perder, ou se transformar mais radicalmente. E os momentos fugazes que Gauguin captura em suas pinturas parecem já conter traços de sua própria cultura. Aliás, note como sua musa, Tehura, interpretada por Tuheï Adams com uma postura sincera, gentil e independente, se transforma em seus quadros, que vão do cotidiano tribal, passa pela erotização natural (e fetichista) e pelo esotérico e termina em uma nova forma de burguesa falsa, talvez o ápice de repulsa dos que acreditam no mito do bom selvagem.
O filme de Edouard Deluc possui tons melancólicos espalhados por uma passagem interessantíssima da vida do pintor, o que torna sua descoberta ainda mais dolorosa. Felizmente há momentos de pura completude, simbolizados por um coração fraco que se recusa a se render e ser internado em um hospital, pois sua urgência com suas telas e sua vontade de viver atingiram o nível máximo. Podemos até conjecturar que Gauguin provavelmente viveria mais com os recursos médicos da civilização, mas vale a pena trocar a qualidade de uma vida plena pela mediocridade eterna?
A fotografia, tão importante nesse trabalho, segue um caminho interessante: as cores do mundo selvagem são pálidas, em dias sempre nublados e tons que não se distanciam uns dos outros, mas as cores de Gauguin, ainda que longe de serem carnavalescas, por contrastes são mais alegres, embora sempre harmonizem com o ambiente onde foram pintadas. A trilha sonora, por outro lado, nunca deixa a tristeza de lado, que desde a festa de despedida na Europa apenas se intensifica, elaborando melodias dissonantes e dramáticas sem chamar muita atenção para elas.
O roteiro é baseado no livro do próprio Paul Gauguin, Noa Noa, que muitos dizem já ser em parte romantizado. Se isso for verdade, que tristeza a melodia de um homem só, que tentando viver como selvagem busca resgatar seu elo perdido, mas encontra apenas seu próprio reflexo na natureza, demonstrando que a perda da inocência não é algo irreversível, mas inevitável. Quiçá remediável. Mas isso não sabemos por este melancólico filme.
# Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças
Caloni, 2018-08-18 <cinema> <movies> [up] [copy]Por que as pessoas hoje em dia estão tão ansiosas em ser felizes e se livrar rapidamente das partes ruins de um relacionamento em suas mentes? A pergunta que o roteirista Charlie Kaufman (Quero ser John Malkovich, Adaptação, Anomalisa) e seu parceiro de costume, o diretor Michel Gondry (Natureza Quase Humana, "Rebobine, por Favor", A Espuma dos Dias) fazem neste filme é: e se elas pudessem?
E o resultado, como dificilmente poderia ser diferente, é uma experiência visualmente inventiva com uma história ambiciosa sem ser pretensiosa. Em uma hollywood decadente, já dando sinais de ter entrado em um cataclisma vicioso com seus cada vez mais enlatados gêneros lucrativos (atualmente resumido em comédias românticas e filmes de super-heróis), Kaufman e Gondry ousam criar Cinema no melhor estilo: um roteirista e um diretor autorais buscando responder questões humanas através da sétima arte. Eles não são cineastas contratados para dirigir atores de sucesso em histórias pré-fabricadas. Eles trilham seu próprio caminho, são talentosos e merecem mais atenção dos espectadores que ainda ousam pensar sobre os filmes que assistem.
Aqui eles empregam um grupo enxuto, mas famoso, de atores, onde o núcleo central é o casal formado por Kate Winslet e Jim Carrey. Carrey, contrariando sua persona criada através de comédias estilo pastelão, faz aqui o rapaz tímido e abobalhado quando o assunto é mulheres. Já Winslet, uma peça fundamental de atuação contemporânea, que migra do seu maior blockbuster (Titanic) para trabalhos cada vez mais intimistas, possui o carisma e a competência para conquistar o espectador em apenas duas ou três cenas iniciais. O casal se encontra. A química não rola. E Winslet é aquela garota tresloucada do bem que consegue criar romance onde praticamente todos os filmes costumam falhar: a espontaneidade premeditada.
Eu não sei como é possível que Gondry harmonize sua criatividade sem limites em criar cenários e truques sem muito uso de computação gráfica (tornando sua textura mais orgânica, palpável) e ao mesmo tempo escolha um elenco tão afiado e os conduza para o cerne das histórias de Kaufman. A única coisa que eu sei é que, rapaz, esse filme funciona em todos os níveis. Nos encantamos pelo casal enamorado e pela forma do filme nos trazer a simbologia de sonhos e memórias. O filme é apenas sobre um experimento, mas dentro dele contém toda a questão explicada nos mais diversos níveis: ficção científica, sociologia, romance, mente e desejos humanos.
Sobre as trucagens, note, por exemplo, como quando entramos na mente de Jim Carrey o fundo dos cenários onde transita, uma rua ou biblioteca, são projeções ao fundo com uma fotografia ligeiramente diferente, sem foco ou com outro movimento, o que nos dá a sensação de deslocamento, de não-encaixamento. Ao mesmo tempo, perceba sua mente de espectador imaginando: estou vendo essa cena que parece fake, eu até imagino como ela é feita, mas ao mesmo tempo não consigo me desvencilhar da ideia de que ela funciona perfeitamente para ilustrar como as coisas funcionam em nosso consciente desacordado, preenchendo lacunas que não sabemos. Há rostos que nunca vemos, e nos sonhos continuamos sem conseguir vê-los. Há momentos que são eternos (como o próprio título sugere), como a personagem de Winslet se distanciando pela calçada, que se repetem como o refrão de uma música triste de despedida de várias formas diferentes. A tecnicidade de Gondry não é apenas um show à parte; ela está trabalhando a serviço do conceito, que é uma história de despedida através das lembranças, visitadas da mais recente até o inevitável encontro dos dois.
E não é só isso: Gondry como diretor mantém um controle que evita cair no lugar-comum onde 99% dos diretores cairiam. E posso provar com apenas um exemplo, o exemplo mais marcante do filme para quem lembra dele com certa nostalgia: quando Jim e Kate estão deitados no gelo olhando as estrelas. É importante que vejamos as estrelas? Claro que não, é o primeiro encontro deles, e só o fato de estarem juntinhos olhando para o mesmo lugar é que se torna relevante. Então Gondry faz o que nenhum diretor medíocre faria: ele não mostra o céu estrelado. E com isso ele nos faz ganhar intimidade com o casal. Gondry não está tentando nos fazer nos imaginar no lugar daquele casal, ele quer que nós observemos como se constrói uma história de amor. Estamos olhando como os amigos do casal, assistindo em primeira mão como eles se conheceram e se apaixonaram.
Enquanto isso, Kaufman nos mantém em alerta com os detalhes da história que vão amarrando toda a trama. No começo o personagem de Carrey tem um impulso, o único impulso da história inteira que esse personagem tão receoso tem. E seu receio continua em sua mente, quando ele começa a ouvir as vozes de fora, da equipe do serviço de apagamento de memória, e vai descobrindo que foi enganado por um rapaz mais desajeitado com garotas ainda, interpretado por Elijah Wood ("ele roubou sua calcinha"). Atravessando diferentes formas de enxergar a mente humana, desde freudiana aos traumas básicos de humilhação, a experência dentro da mente de Carrey é o grosso do filme e merece cada detalhe, pois é nesse momento que a história, o conceito e o Cinema convergem para um fim comum. Por fim, mais tarde vamos preenchendo as lacunas do que acontece no começo do filme, conforme vamos entendendo quem é Clementine (a personagem de Winslet) e como ela deve ter mudado, de certa forma, e ainda que ligeiramente, o meticuloso e amedrontado Joel (Carrey).
Isso nos leva até o momento crucial onde as histórias se juntam. E (SPOILER!) quando Joel parece utilizar suas próprias memórias de Clementine para saber o que fazer quando esquecê-la completamente (ou, na visão mais poética, para os espectadores mais apaixonados, quando ele ouve um sussurro vindo do além), e eles se encontram, e eles percebem que seu recém-relacionamento já aconteceu, e escutam um do outro todas as mágoas e os defeitos que um enxerga no outro, e surge a grande questão: vale a pena viver um romance onde ambos vão se ferir? Ou, se perguntarmos da maneira Kaufmaniana: vale a pena repetir os erros do passado porque no meio desses erros existirá o significado da própria vida, que são as próprias experiências, com o lado bom e ruim ao mesmo tempo? Por não existir resposta pronta, e o filme apenas ligeiramente sugerir um final feliz (sem ser realmente feliz, se você entendeu a questão) é o que torna Brilho Eterno daqueles filmes que merecem ser vistos e revistos constantemente.
# Jejum Intermitente e Nutricionistas em Fúria
Caloni, 2018-08-18 body> <blogging> [up] [copy]Disclaimer
Houve a publicação deste artigo já com revisão em revistas científicas e uma das pesquisadoras tem um canal no YouTube de divulgação científica. Ela fez um vídeo sobre sua tese de doutorado e junto da descrição do vídeo, além do link para o artigo em si, há muitos e muitos outros artigos relacionados.
<https://youtu.be/PkWoC0ftWzE?si=Nr2mKo1t0fWJKVip>
<https://www.mdpi.com/2072-6643/12/4/1029>
Logo, este meu post precisa ser atualizado e corrigido eventualmente.
Texto original
Eu entendo que nutricionistas precisem defender sua profissão. Muitas pessoas no mundo todo possuem uma dieta errante totalmente inadequada com suas condições de saúde, e a área de nutrição pode e deve crescer com base em evidências científicas, da mesma forma como acontece com a medicina. Uma das funções mais importantes desses profssionais hoje em dia é desmistificar e validar as conhecidas dietas da moda: comer de três em três horas, dieta paleolítica, cortar carbo, comer só uma coisa a semana inteira, etc.
O que eu não entendo de tudo isso é a razão pela qual conteúdo duvidoso é escolhido como base de notícias pelo canais de mídia. O jejum intermitente finalmente foi escolhido para ser explicado (e criticado) cientificamente aos leigos, mesmo já sendo moda há alguns anos mas entre dezenas de papers e experimentos realizados em camundongos e humanos por vários anos foi escolhido apenas um experimento recente feito por dois estudantes de pós da USP, sem revisão por pares e já com algumas críticas da comunidade científica por conta de sua metodologia.
O motivo pelo qual resolvi escrever um pouco a respeito disso é que eu faço jejum intermitente há mais de um ano por sugestão de um amigo que havia começado há pouco tempo e que antes de ter tomado essa decisão resolveu estudar a fundo os efeitos dessa, podemos dizer, dieta. Eu comecei a fazer e em paralelo fui estudando, seja em blogs para algo mais informal, descartando mitos ou até em papers mais detalhados, onde se observou longevidade em camundongos e aplicações moleculares da dieta. Por fim, há até uma palestra no TED sobre como funciona o aprimoramento do cérebro pelo jejum (e uma possível conspiração da indústria alimentícia contra esse método de dieta) e, para os mais radicais, uma observação molecular de como funciona o processo de acúmulo e uso de energia no corpo humano.
Dessa forma, fiquei muito surpreso ao ver um vídeo no canal Notícias de Garagem, um canal que supostamente era um dos mais conceituados sobre notícias científicas em português do YouTube, falando sobre Jejum Intermitente apenas sob três aspectos principais, dois negativos: ele gera queda de peso, ele pode prejudicar o senso de fome e ele pode causar diabetes.
O estudo citado sobre a estudante no Jornal da USP tem o título "Jejum intermitente 24 por 24 horas aumenta risco de diabete em ratos" e foi demonstrado no European Society of Endocrinology annual meeting de 2018. O estudo em si se chama "Intermittent fasting for three months decreases pancreatic islet mass and increases insulin resistance in Wistar rats" e foi feito por Ana Cláudia Munhoz Bonassa e Angelo Rafael Carpinelli. Além de ser uma pesquisa preliminar, não sendo recomendada sua divulgação como algo alarmante, recebeu algumas críticas contundentes sobre sua metodologia no evento, como a do Dr. Nicolas Guess, palestrante do Nutritional Sciences at Kings College London:
Firstly, it's important to bear in mind there are important differences between rodents and humans -- particularly with regard to diet. For example, a high fat diet causes insulin resistance in rats but it does not appear to in humans.
The exact method is unclear from the abstract, but if the rats were fasted for one day, this is equivalent to an approximately 3 to 4 week fast in humans! So it's not applicable to the 24-hour or 48-hour fasts practised by humans on common fasting diets.
Considerando todas as infomações coletadas em diversas fontes é possível perceber uma certa parcialidade no vídeo da turma do Dragões de Garagem, algo que eu poderia entender como mau-caratismo não fosse a possibilidade desta ser uma reportagem equivocada e feita às pressas. Seria apenas questão de eliminar mais uma dieta da moda da lista das soluções milagrosas. Se for esse o objetivo, eles estão certos: é importante eliminar a enorme desinformação que corre pela internet. Porém, não se faz isso espalhando mais desinformação. Que pelo menos fosse alguma informação equilibrada sobre o assunto.
Fontes citadas:
- Intermittent Fasting 101 — The Ultimate Beginner’s Guide
- 11 Myths About Fasting and Meal Frequency
- Fasting: molecular mechanisms and clinical applications
- Why fasting bolsters brain power: Mark Mattson at TED
- Glycogen in Four Parts
- Jejum intermitente “24 por 24” horas aumenta risco de diabete em ratos
- expert reaction to unpublished poster presentation on diabetes and fasting as presented at the European Society of Endocrinology annual meeting, ECE 2018
Outros links
<https://norecopa.no/3r-guide/fasting-in-rodents>
<https://emagrecerdevez.com/tribo-forte-116/>
<https://maze.conductscience.com/how-to-model-intermittent-fasting-in-rodents/>
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5355425/>
# O Centenário Que Fugiu Pela Janela e Desapareceu
Caloni, 2018-08-19 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Este filme tem um longo nome. Tão longo quanto a vida de Allan Karlsson, o centenário que protagoniza essa comédia de erros. A princípio talvez você não entenda o que o filme quer dizer, além do que ele já diz no seu título. Então vai aqui uma dica: não pense, apenas assista.
Esse foi também o conselho que Allan recebeu de sua mãe, logo antes dela morrer e logo depois de seu pai morrer, um revolucionário que acreditava que a camisinha salvaria todos da miséria e que acabou sendo fuzilado. Seu problema era que ele pensava demais, dizia a mãe de Allan.
Então ele aprendeu outra coisa: que gostava de explodir coisas. Foi esse prazer que orientou toda sua vida. E apenas esse, já que ele foi praticamente castrado quando um biólogo racial o analisou e categorizou este sueco como negróide e afeito a comportamento agressivo. Este pode ser um filme simples com um roteiro que te manipula, mas ele é simpático, engraçado em alguns momentos e curioso em outros.
Por contar a história de um homem que não pensava muito antes de agir, é inevitável que ele lembre outro filme mais famoso: Forrest Gump, o Contador de Histórias. E não à toa, ambos são peças chave de alguns eventos históricos. Gump na América, Allan na Europa. É por isso que mais de um ditador já gritou com ele, enquanto Forrest foi apenas condecorado inúmeras vezes na Casa Branca.
Esta é também uma história que fica indo e vindo entre passado e presente, mas em apenas um momento o passado de Allan será útil para ele no presente. Mas, acredite, para chegar nesse momento você terá que ouvir a história inteira. Apesar de não fazer muito sentido vale a pena.
Essa também é aquela clássica comédia onde os bandidos vão atrás do herói, mas por uma série de acidentes eles nunca conseguem, só que até você perceber isso já terá se entretido com a história recente de Allan e seus novos amigos e não se importará com a reprise da sessão da tarde, até porque ela é muito bem feita.
Alguns personagens somem, como a garota de uma gangue de motoqueiros, e temos até uma amnésia conveniente para colocar a trama de volta nos trilhos, mas perdoamos tudo isso (apesar de não esquecermos) porque já aconteceram coincidências demais na vida de Allan para questionarmos essas bobagens quando ele chega aos seus 100 anos.
Apesar deste ser um "Forrest Gump" europeu sobre um velho solitário e viajante, esta não é uma produção cara, mas o dinheiro gasto é bem aproveitado. Não podemos acreditar, claro, em todas as cenas de pontes explodindo, mas podemos comprar a ideia de um homem sendo jogado da varanda e caindo do sexto andar. Olhe, o diretor Felix Herngren está mais preocupado em ser ágil para evitar os deslizes nos efeitos. Ele também está pensando pouco. Pelo menos no enredo. Na montagem, seus enquadramentos apressados escondem tão bem as trucagens que vira um charme a mais em um filme que já tem um velhinho centenário e uma elefanta.
Com fôlego de sobra para mais um século, O Centenário Que Fugiu Pela Janela e Desapareceu diverte sem muitas pretensões em uma produção barata que parece um pouco mais cara. Isso é tudo que você precisa saber sobre este filme sueco de 2013 que passou despercebido por muita gente, e que agora sendo reexibido em festivais pode ser uma nova chance para cinéfilos compulsivos.
# As Duas Irenes
Caloni, 2018-08-21 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Poucos filmes me deixam sem palavras por causa das camadas emocionais em que ele coloca o espectador (e que depois fica difícil de sair uma a uma). As Duas Irenes é um desses filmes, mas longe do motivo ser apenas a história ou as atuações. É toda a produção. Isso pode ser minha memória afetiva que foi aguçada com tantas referências a uma época que não existe mais. E se for, garanto que vai sentir o mesmo se prestar atenção.
A direção de arte e a fotografia nos transportam para uma sensação. As cores claras e o sol a pique, com a estrada sempre cheia de luz do sol, as paredes das casas sempre secas e o vento nas folhas e nos cabelos sempre bem-vindo demonstram que esta é uma época quente, onde todos precisam se refrescar de vez em quando. A empregada geralmente está do lado de fora da casa ou próxima da janela da cozinha. E olha que interessante: a segunda mãe, da outra casa, onde não tem empregada, também fica com janelas abertas em uma casa bem arejada. Quero dizer, até o cinema da cidadezinha quer respirar com suas poltronas de um amarelo claro surrado.
E tudo isso nos faz lembrar do figurino, com roupas igualmente claras, e leves, e muito poucas. Apenas o necessário, mesmo para a família abastada. Os protetores de mosquito das camas dessa família também nos lembra do calor e seus insetos irritantes. Há uma cena próximo do rio onde ficam as duas Irenes e os outros jovens, próximo do pôr-do-sol, onde pode-se ver um enxame de insetos sobrevoando uma luminária já acesa.
Mas, voltando às roupas: note como às vezes há, sim, um pouco de tons escuros da família principal. Eles têm diferença entre eventos informais e formais. Um vermelho mais sisudo para a patroa ou adornos mais caprichados para as filhas. Cada cena parece um quadro dos tempos antigos. Anos 70, 80, talvez? Por aí. Não há uma marcação exata, mas sabemos que é uma época familiar para quem já tem suas décadas de idade.
A história apresenta duas talentosas atrizes. Priscila Bittencourt, a protagonista, é a Irene que tem duas irmãs e é a do meio. Quem já foi ou é irmão do meio sabe como é duro chamar a atenção. Três irmãs, então, naquela época, a mais velha sempre será o xodó, seguida da caçula, talvez. Esta Irene não deu sorte em sua família, e todos os olhares e trejeitos de Bittencourt são para deixar o espectador ciente de como ela está incomodada com a situação. Ela é observadora, quase não fala. Ela está descobrindo ainda o que se passa em sua cabeça quando a vemos com uma pedra na mão, a raiva inicial, de ter descoberto que seu pai tem outra família. E outra Irene.
E essa Irene é filha única. Interpretada por Isabela Torres, é mais extrovertida. A primeira vez que a vemos ela está em um desfile de moda da escola, andando pela passarela com desenvoltura. E apesar de ambas as Irenes terem a mesma idade, 13 anos, seu corpo é mais desenvolvido. Especialmente os seios. E isso faz a pequena Irene sempre murcha, a acompanhando sempre atrás. Vá reparando como isso aos poucos muda, e verá que o trabalho de Bittencourt é bem mais complexo, pois tem que fazer uma curva em sua personagem.
Esta também é uma história social, pautada nos nomes. Quando ela se insere na vida da robusta Irene, adota o nome de Madalena, que é o nome da empregada da família. Quando fala para Madalena que já beijou alguém chamado Murilo, ela está descrevendo a experiência de sua meia-irmã. Ambas são filhas biológicas, algo meio óbvio para a época, mas você só mata essa dúvida de vez quando a pequena Irene pergunta sobre a escolha do nome. De qualquer forma, voltando à produção, é a atmosfera que nos diz muitas coisas sobre essa história. Quase nada está nos diálogos, que são simples, monossilábicos, e escolhidos a dedo.
O diretor Fabio Meira exibe uma sensibilidade neste filme a cada cena; é nos objetos, no chão, nas paredes, nas roupas, nas posturas de seus personagens. E nos enquadramentos: sua câmera mal se mexe porque ele já escolhe a posição perfeita no começo da cena. Às vezes até a altura perfeita para o que vai acontecer. A tela é mais larga, cinemascope, porque ele está cheio de ideias de como completar o quadro. Em um momento icônico, vemos o pai recém-chegado estirado no sofá, e uma pequena Irene pronta a questioná-lo. Não vemos sua cara. Ela está de pé e o plano no momento não a contém. Mas sabemos que ela o está observando, medindo... daí ela se senta na poltrona da frente, do outro lado da tela, quando a vemos. Uma escolha perfeita que mantém a câmera inerte e os personagens mudam de lugar para preencher o significado.
Meira também abusa um pouco do espelho e sua simbologia da vida aqui e lá, representando as duas famílias. O filme flerta com o clichê ao mostrar o reflexo duplo da pequena Irene no espelho do quarto, mas o resultado é necessário, pois no fundo ele está nos dizendo: a pequena Irene está em busca do seu lugar; ela não aceita mais ser a segunda opção. Agora deverá se contentar em ser a segunda Irene? Nem pensar!
E por falar em pensar, este filme tem um ritmo lento que vai te deixar pensando em muitas coisas. Aqui vai minha sugestão: pense. Deixe os devaneios fluírem. Será que o pai da grande Irene mimou demais a menina, não apenas por ser filha única da segunda família, mas talvez por não prover tantos recursos quanto para a primeira família? E a segunda Irene, por que ela parece tão deslocada do resto da família burguesa? E sua mãe, ela sabe? E se sabe, seus comentários tornam-se os mais divertidos, pois ela possui uma camada extra de proteção contra conversas em família. Há muitas coisas a pensar, esses são apenas exemplos.
Poucos filmes me deixam sem palavras e com muito a sentir. E esse, quando vemos uma pedra na mão de outra Irene, o vento brisando em um misto de folhas verdes das árvores, uma rima carinhosa no final, com um desfecho à altura de tudo o que vimos até então. E se formos observar de muito perto, pensar pela última vez em tudo que aconteceu, talvez não haja muito mais o que pensar afinal de contas; só sentir. Sinta o vento em seus olhos. Sinta esse tempo e essas pessoas que não existem mais.
# Meu Novo Parseador de Argc Argv
Caloni, 2018-08-21 <computer> <ccpp> [up] [copy]Eis que me deparo com um projeto onde não posso usar STL. Ou seja, nada de map nem string. Isso quer dizer que minha função bonita e completa de parseamento de argumentos argc/argv não pode ser usado. Essa é uma má notícia. A boa notícia é que achei uma forma muito mais simples e à prova de falhas de fazer isso. Ele basicamente percorre o array argv em busca do nome do parâmetro enviado para a função. Uma vez que ele encontre ele retorna o próximo elemento. Na falta de próximo elemento ele simplesmente retorna uma string vazia que não é nulo, mas já indica que há o parâmetro na lista de argumento.
<https://gist.github.com/Caloni/5b9ccc66722a1b235f4aab8251822cdb>
Essa função é tão simples, e tem tão poucas dependências (strcmp) que você pode usá-la em praticamente qualquer programa que use argc/argv e que use os parâmetros dos mais complexos. Ao chamar essa função se passa o argc e o argv recebido no main e o terceiro argumento é apenas o nome de um argumento válido que pode ser recebido via linha de comando. O resultado é um ponteiro (obtido no próprio argv) da próxima string ou uma string C vazia constante (não precisa de alocação) se for o último argv. E caso ele não ache o retorno é NULL. Seu uso comum é uma linha apenas, ou uma linha para cada argumento buscado. Sua complexidade é linear, mas, ei, quem está querendo performance no início do programa?
Uma última observação: dependendo do uso você pode ou não usar o retorno, e ele possui semântica booleana, pois caso o argumento não exista o retorno é NULL e por isso não cai dentro do if (pois NULL traduzido em booleano é false). Eis uma função para copiar e colar abusivamente.
# Histórias que Nosso Cinema (Não) Contava
Caloni, 2018-08-23 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Se você se lembra das pornochanchadas -- produções de baixo orçamento, cunho erótico e qualidade duvidosa lançadas na época da intervenção militar -- é bem capaz que irá gostar muito desse filme. Ele dá uma nova cor ao tema. Não se trata de uma mistura inconsequente como aquelas homenagens vazias. A montagem das cenas, ou seja, a sequência que elas seguem, é o núcleo da narrativa que ele tenta criar a partir do nada. Sua ambição: fazer um memorial político/sócio/econômico da época. Dentro das pretensões das pornochanchadas, até que não está muito longe.
Fui a uma pré-estreia empolgada, cheia de amigos e conhecidos da equipe técnica. Não há atores no projeto. Todo o filme é um recorte de outros filmes, cujo maior desafio foi encontrar não apenas os rolos, mas todos os detentores dos direitos. E das músicas. Foi um trabalho de escavação cujo resultado estava sendo comemorado naquela noite como uma vitória contra o status quo da época. Aliado a isso, todo o clima amistoso e brasileiríssimo do conteúdo que vimos é empolgante por si só. Talvez não haja nada mais genuinamente brasileiro, que una todos os povos e culturas, que uma pornochanchada setentista e sua mistura única no mundo, com direito a mulatas, branquinhas, homens fanfarrões, gringos com sotaque falso e diálogos memoravelmente horríveis.
A "história", como o título, uma brincadeira com "Histórias que Nossas Babás Não Contavam", uma paródia de Branca de Neve e os Sete Anões (que também possui cenas no filme), é contar através de recortes as discussões que não existiam nesses filmes, mas que eram citadas de passagem, como política, economia, e questões "polêmicas", como direito das mulheres, ataques à "moral e bons costumes", como aborto, divórco, etc. Todos os temas são citados em ordem, e os comentários vem de vários filmes em uma corrente de pensamentos e momentos icônicos da cinematografia brasileira. A todo momento peço que observe como a montagem (e edição) consegue dar fluidez a cenas que praticamente não existem. É como se esses filmes ganhassem uma nova roupagem, mais dinâmica, mais século 21, e viesse nos visitar como um fantasma do passado do Conto de Natal; uma visita bem-humorada e divertidíssima.
O filme peca por não ter de fato uma discussão séria. Os letreiros iniciais e finais sugerem que ele tem, que aquilo foi produzido como memória para "não repetirmos os erros do passado". Mas não há erros identificáveis no filme; ou pelo menos não erros universais. Depende de quem está lendo e de suas opiniões sobre os temas pincelados. Eu, por exemplo, achei divertidíssimo o humor ocasional cercado de ironias e má atuações, e todas as piadas cercando o mercado de ações são para quem já trabalhou na área ou já acompanhou notícias por mais de uma década; é uma pérola à parte. Os famosos nus das mulheres (e dos homens) são mostrados, mas não erotizados; chegam a ser tristes em alguns momentos, libertadores em outros.
A própria bagunça que o filme faz com diferentes histórias e personagens acaba se tornando mais um exemplo digno do que é Brasil, esse caos que sob os olhos de qualquer outro povo soa como um caos imoral e completamente delicioso. Não há outra forma de ver nosso povo e nossa história. E se você adora pornochanchadas, mesmo que em outras áreas da vida seja um coxinha, é bem capaz que você tenha o vírus brasileiro no sangue; apenas não te deram o diagnóstico.
# Nico, 1988
Caloni, 2018-08-24 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Abre uma janela em "Nico, 1988" sobre os últimos anos da artista Christa Päffgen (aka Nico). Decadente e ainda brilhante, a uma vez influenciada pela banda Velvet Underground se torna ela mesma uma influenciadora. O seu estilo niilista consciente é a raiz que muitos movimentos musicais adotaram para representar essa geração de perdidos, que em vez de buscar significado na vida vai na base das drogas se manter em uma constante e absurda viagem.
O filme, dirigido e escrito pela italiana Susanna Nicchiarelli, realiza uma amarração interessante entre o fim e o começo dessa pessoa com um momento muito breve na infância de Nico. Observando de longe uma Berlim pegando fogo na segunda guerra, os sons que ela ouve são o motivo que faz com que ela ande sempre com um gravador. Ela deseja encontrar a clareza e a pureza do som da derrota. Os poucos momentos desse passado longínquo também servem como uma forma elegante de não precisar entrar em muitos outros detalhes de sua vida, pois o filme não é sobre nenhum deles.
O que temos no núcleo da história é Nico, interpretada por Trine Dyrholm, e seu agente, Richard (John Gordon Sinclair). Dyrholm, uma dinamarquesa que já se entregou em papéis complicados, como a matriarca de uma comunidade de amor livre em A Comunidade, se transforma em sua versão de Nico com tamanha naturalidade que ela nos traz aquela impressão injusta de atriz de um papel só. Ela é tão autêntica falando como Christa Päffgen quanto cantando (é sua voz nas músicas do filme), sendo que cantando não se torna apenas um show de imitação, pois cada música cantada em momentos distintos da história recebe uma entonação de acordo com o que está acontecendo. Note sua voz desafinada e desinteressada quando ela canta para desavisados clientes de um hotel que não possuem a mínima noção de sua arte e compare com seus saltos enérgicos e empolgados em um show proibido em Praga (talvez o melhor momento do longa).
Já Gordon Sinclair representa bem uma série de emoções que um espectador-fã reconheceria em si mesmo: amor, admiração, paixão. Este não é um agente que simplesmente acredita em sua estrela: ele vive e entende Nico talvez melhor do que ela. Ele se torna testemunha de seu declínio, mas não parece ligar a mínima. Para ele sua musa sempre estará no topo, e ele fará sempre questão de que ela seja tratada da melhor forma à disposição, o que não impede que seja visível que esta não é uma banda que está arrasando na audiência. Lembrando uma versão mais digna de Mathieu Amalric em Turnê (2010), Sinclair até se veste de forma a pontuar que ele não faz parte do show business como qualquer outro vendedor de talentos: ele é parte do que defende.
Essa insistência em enxergar a situação da banda se torna uma mensagem triste e ao mesmo tempo necessária do filme. Artistas influentes como Nico e tantos outros talvez só consigam sua inspiração tendo essas vidas sofríveis, no limite. Dessa forma, a postura da diretora/roteirista Susanna Nicchiarelli é correta em nos trazer um filme realista, onde as quedas do dia-a-dia não são lamentadas como algo desastroso, mas como simplesmente parte da vida. Quando eles precisam ficar alguns dias na casa de um amigo por não conseguirem pagar um hotel é quando Nico tem uma refeição memorável com um amigo. A criação de Trine Dyrholm entra nessa vibe, e junto com ela todos os que interpretam membros da banda e equipe. A sobrevivência de Nico e seus fãs como exilados não é algo a se lamentar, mas a se observar. Admirar, talvez. Olhe que lindo um mundo onde nem todos fazem parte do rebanho.
# Animal Político
Caloni, 2018-08-26 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Animal Político é uma fábula que soa muito densa para o espectador médio, mas que ao mesmo tempo tenta manter suas sensações, analogias e símbolos mais próximos possível do cidadão comum. Isso porque é um filme que fala, como o título já denuncia, sobre nós como animais políticos. Esse conceito vem de milhares de anos atrás, de um filósofo grego chamado Aristóteles e de um livro chamado Política. Bom, já deu pra perceber que a história vem de longe; e essa discussão está longe de acabar.
O que o diretor/roteirista Tião faz em sua estreia em longas é abrir mais uma possibilidade de explicação sobre o que o já finado Aristóteles dizia e como isso se encaixa em nossa própria "Pólis", que do grego é sinônimo não apenas de cidade, como a vida social, as regras e os costumes onde estamos inseridos. A nossa pólis é a cidade grande, os costumes de família (religião), de amigos (a vida boa), de ir fazer compras no shopping (capitalismo). Da vida social como a conhecemos.
Para chamar a atenção do espectador Tião realiza o movimento mais ousado do filme: seu protagonista é uma vaca. Literalmente. Vemos a vaca onde deveríamos ver um humano se comportando como os outros: esperando o sinal fechar para atravessar a rua, correndo uma esteira na academia, comendo em uma lanchonete de fast food, no churrasquinho de fim-de-semana com os amigos e na festa de fim de ano com a família. Toda a rotina se apresenta como ela é, desprovida de qualquer brilho e sem qualquer novidade. Exceto a vaca. Um animal se comportando como um de nós.
Esse movimento sagaz é o que dá entrada para este debate sobre sermos animais que seguimos os costumes de onde nascemos e crescemos, e nos coloca muito pouco distantes de qualquer outro animal. "Animal Político" brinca sem cerimônias com o próprio "2001 - Uma Odisseia no Espaço" (Kubrick, 1968) e sua ideia de que o homem transcende dos animais, para entregar no lugar do nosso próximo monolito um livro sagrado com as regras que todos devem seguir para enxergar significado em uma vida sem sentido: o livro da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Claro que é uma brincadeira sobre a "insira seu livro sagrado aqui" (Bíblia? Alcorão? Não importa) e como uma possível evolução humana para algo além não irá passar de mais um novo conjunto de regras que, auto-contido, parecerá nos dar algo de especial.
Sem muita abertura para interpretações se você conhece o mínimo sobre a História do ser humano dos últimos séculos, para o espectador leigo será uma atividade prazerosa tentar encaixar os diferentes símbolos nos significados mais cotidianos. O que significa a mulher nua, por exemplo (o único capítulo nomeado como "A Mulher Caucasiana"). O que ela nos diz sobre herança é uma pista; ela pisca diretamente para nós, na verdade. Fala conosco. Mas o elo entre ela e a vaca é algo "aberto" para nossa interpretação. Cada um que ver o filme terá que escolher qual é sua definição de "Matrix".
O mais impressionante do ponto de vista técnico no filme é sua economia de recursos. Usando o cenário urbano e a paisagem inóspita de um quase deserto, os elementos são simples objetos e fantasias: livros, um fio elétrico, um manual da ABNT, uma TV de tubo, um aspirador de pó, uma menina irritante reclamando o tempo todo. E mais uma vez o diretor está certo em sua escolha. Se o filme é sobre costumes que se repetem indefinidamente, elementos conhecidos do nosso inconsciente apenas reforçam a mensagem.
"Animal Político" é o meu tipo de filme favorito para recomendar para que as pessoas assistam com amigos e conversem a respeito. Ele é curto (uma hora e pouco), mas possui alguns momentos calmos demais. Então preste atenção até o final, acenda a churrasqueira, abra uma garrafa de cerveja e comece a imitar todos os costumes vistos. Adicione agora o ato de pensar. O espectro de Aristóteles agradece.
# George Orwell: Politics and the English Language
Caloni, 2018-08-26 <philosophy> [up] [copy]Politics and the English Language é um texto do George Orwell sobre como escrever de forma mais clara que os confusos escritores de nossa época. A língua inglesa era o que ele estava defendendo, não contra o empobrecimento como muitos eruditos, mas contra o seu uso por si mesma, tornando a mensagem, a coisa mais importante em um texto, secundária. Ao mesmo tempo ele, que é ídolo de vários movimentos totalitários, dá umas alfinetadas tão específicas nos "revolucionários" de hoje em dia que é merecida a citação. Vamos começar:
The word Fascism has now no meaning except in so far as it signifies 'something not desirable'.
Sim, o uso indiscriminado das palavras gera isso, que é praticamente o único motivo das discussões sobre política na internet. Satisfeitos, corruptores da língua?
The words democracy, socialism, freedom, patriotic, realistic, justice have each of them several different meanings which cannot be reconciled with one another. In the case of a word like democracy, not only is there no agreed definition, but the attempt to make one is resisted from all sides. It is almost universally felt that when we call a country democratic we are praising it: consequently the defenders of every kind of regime claim that it is a democracy, and fear that they might have to stop using that word if it were tied down to any one meaning.
Other words used in variable meanings, in most cases more or less dishonestly, are: class, totalitarian, science, progressive, reactionary, bourgeois, equality.
O parágrafo seguinte é o que venho tentando evitar desde que meu amigo me recomendou este excelente texto. E de fato, se você se acostuma a ler textos contemporâneos fica mal acostumado e sai escrevendo longas linhas de texto sem sentido, mas estilisticamente bonito:
As I have tried to show, modern writing at its worst does not consist in picking out words for the sake of their meaning and inventing images in order to make the meaning clearer. It consists in gumming together long strips of words which have already been set in order by someone else, and making the results presentable by sheer humbug.
Para isso é necessário se fazer algumas perguntas antes de começar a escrever:
- O que eu estou tentando dizer?
- Qual palavra irá expressar isso?
- Que imagem ou expressão irá tornar mais claro?
- Essa imagem é atual suficiente para ter efeito?
- Eu posso dizer de maneira mais sucinta? E, por último:
- Eu disse alguma coisa feia que posso evitar?
A scrupulous writer, in every sentence that he writes, will ask himself at least four questions, thus: What am I trying to say? What words will express it? What image or idiom will make it clearer? Is this image fresh enough to have an effect? And he will probably ask himself two more: Could I put it more shortly? Have I said anything that is avoidably ugly?
Orwell também ensina como os discursos políticos são moldados para que as ações não aceitas pela sociedade se tornem magicamente como um ato de patriotismo, como matar "inimigos":
Consider for instance some comfortable English professor defending Russian totalitarianism. He cannot say outright, 'I believe in killing off your opponents when you can get good results by doing so'. Probably, therefore, he will say something like this: 'While freely conceding that the Soviet regime exhibits certain features which the humanitarian may be inclined to deplore, we must, I think, agree that a certain curtailment of the right to political opposition is an unavoidable concomitant of transitional periods, and that the rigors which the Russian people have been called upon to undergo have been amply justified in the sphere of concrete achievement.'
Por último, uma lista de coisas a evitar:
- Nunca use uma metáfora ou figura de linguagem que você se acostumou a ver na mídia.
- Nunca use uma palavra longa onde uma curta já serve.
- Se é possível cortar uma palavra, sempre corte.
- Nunca use a voz passiva onde pode usar a ativa.
- Nunca use uma frase ou expressão estrangeira, palavra científica ou jargão se você pode usar palavras do cotidiano no lugar.
- Quebre qualquer uma dessas regras antes que você diga algo digno de um bárbaro.
Never use a metaphor, simile, or other figure of speech which you are used to seeing in print. Never use a long word where a short one will do. If it is possible to cut a word out, always cut it out. Never use the passive where you can use the active. Never use a foreign phrase, a scientific word, or a jargon word if you can think of an everyday English equivalent. Break any of these rules sooner than say anything outright barbarous.
# Ferrugem
Caloni, 2018-08-27 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Ferrugem tem a ambição de tratar de um tema sensível, mas ele o faz de maneira tão sutil que sua mensagem se perde na tradução. Sua produção está equivocada, pois torna seus cenários tão higienizados que o resultado é um melodrama esquecível antes que sua segunda parte termine.
Por falar em partes, este é um filme que se divide em duas, dirigidas de formas bem distintas. Na primeira parte nós pensamos que o protagonismo da história é uma jovem de uns 16 anos, Tati (Tifanny Dopke), que está muito afim de um garoto, Renet (Giovanni de Lorenzi), que é o verdadeiro protagonista da história. Porém, isso só será revelado na segunda parte, e é capaz que você se esqueça dele, porque apesar deste filme lembrar um estudo de personagens... não há personagens; apenas estereótipos genéricos de jovens.
Outro motivo pelo qual a segunda parte se torna esquecível é porque na primeira a narrativa é mais dinâmica e colorida, cheia de luzes, música, e planos fechados que nos aproximam da vida de adolescentes grudados na tela do celular. É o mundo virtual que complementa o real, onde todos compartilham imagens e vídeos sobre si mesmos. Analisando Tati e Renet, percebemos que esta é uma história orientada em selfies, personas virtuais e reais com um passado que gostariam de esquecer. Tati gostaria de esquecer que foi traída pelo seu ex-namorado. Renet gostaria de esquecer de sua mãe; os motivos ficam ocultos por muito tempo, e quando são revelados não geram a indignação esperada. Sequer conseguimos entender essa raiva represada de Renet pela mãe.
Mas a Tati sim, quase conseguimos entendê-la enquanto protagonista, embora, como falei, seja em si um estereótipo sem maiores qualidades. Podemos arriscar dizer que ela é decidida (ela que beija Renet), possui opiniões fortes (ela que protege Renet de uma brincadeira de mau gosto do amigo) e sabemos que quando algo acontecer a ela no filme possivelmente ela irá revidar. Esta não é uma jovem que costuma se fazer de vítima.
Ou é? Quando surge na história um vídeo íntimo da Tati com seu ex que vaza para toda a escola ver (e mais tarde, obviamente, toda a internet) sabemos que ela fica extremamente abalada, contrariando o pouco que sabemos dessa menina. Apesar de iniciar em seu núcleo com uma jovem introspectiva a ponto de ficar sozinha em um passeio da escola, mas extrovertida a ponto de tomar a iniciativa de beijar o garoto que gosta e defendê-lo em público, ao mesmo tempo ela é incapaz de lidar com o fato das pessoas comentando seu vídeo, em uma série de brincadeiras que não passam de piadas sem graça com a situação e julgamentos morais dos colegas.
Aqui talvez o design de produção crie uma falsa expectativa de um filme descolado que se converte em drama. Com cenários, como eu disse antes, higienizados, o banheiro da escola onde estudam está cheia de pixações nas paredes pouco criativas até para adolescentes, mas em uma tentativa de fazer a escola soar natural, elas estão aí. O problema é que todas elas obedecem as divisões dos azulejos, denunciando um ambiente cinematográfico, pronto para vermos os personagens interagir. Esse clima ligeiramente falso é o suficiente para não conseguirmos entender o que se passa na cabeça de Tati. E o silêncio dos personagens em "Ferrugem" em momentos que estão acuados, apesar de necessários, não nos ajudam a entendê-los. A consequência é que caminhamos pelo filme desinteressados por essas pessoas, pois são estranhos para nós, e nos concentramos na história, que entretém do começo ao fim nos momentos onde não vemos um desses jovens parado pensando na vida. A história poderia segurar nosso interesse sozinha, mas ela também soa como um folheto de jornal esquematizado.
O mais frustrante em Ferrugem é que ele é uma produção rica em detalhes, mas os detalhes estão soltos demais, nos fazendo ter que interpretar o mistério que cerca seus dois protagonistas em duas partes corretamente dissonantes, mas incorretamente enigmáticas. A transição entre as partes não é chocante, mas rápida demais, o que causa o efeito de ignorarmos o impacto de uma cena em específico (você a reconhecerá quando ela acontecer). E por mais que algo seja chocante, é difícil analisar a introspecção de jovens quando faltam pistas. E por falta de pistas, a conclusão cai no automático: são aborrecentes como outros quaisquer.
# The Photoplay
Caloni, 2018-08-27 <books> <cinema> <movies> [up] [copy]The Photoplay, A Psychological Study, é considerado o primeiro livro que levou a sério a linguagem cinematográfica como uma nova forma de arte. Ele realiza duas manobras interessantíssimas para a época: retira a impressão que Cinema é apenas um teatro para as massas e eleva as fotos em movimento como uma nova forma de estética que atinge seu status de arte justamente por se destacar do mundo.
Hugo Münsterberg foi mais conhecido na área de psicologia aplicada, tendo escrito dezenas de livros na área. The Photoplay é seu último livro, publicado no ano de sua morte, e é um trabalho robusto, denso, que especula sobre os mecanismos que tornam o Cinema algo além do simples entretenimento.
Alemão que depois imigrou para os EUA, ganhando também cidadania americana, era uma pessoa interessada em várias áreas, como psicologia, medicina e artes. Sua família amava as artes. Crente em Deus e em vida após a morte, curiosamente ele também ficou conhecido por desbancar charlatões espíritas (talvez em uma busca incessante por provas). Foi considerado polêmico durante a primeira guerra por de certa forma defender a hegemonia alemã (isso já com sua segunda cidadania).
Trabalhando com psicologia aplicada boa parte do tempo, The Photoplay é um trabalho que inicia como uma investigação sobre os processos da mente humana, que juntos criam a impressão que aquelas fotos mostradas em sequência são figuras humanas em movimento, que transitam em diferentes lugares e tempos, muitas vezes de maneira não linear, muitas vezes exibindo apenas um detalhe em cena. Münsterberg demonstra como as deficiências na época para o cinema como a falta de som, cores, ou a própria profundidade de cenário como no teatro não eram um problema, pois se em algum momento o objetivo era se tornar um teatro barato para as massas, logo isso se tornou insuficiente, forçando os criadores dos pequenos filmes de quinze minutos mostrando uma cena cotidiana a ir além para manter a audiência.
The impression of backward movement can arise from forward motions, quick movement from slow, complete rest from combinations of movements. For the first time the impression of movement was synthetically produced from different elements.
...
Of course, when we are sitting in the picture palace we know that we see a flat screen and that the object which we see has only two dimensions, right-left, and up-down, but not the third dimension of depth, of distance toward us or away from us. It is flat like a picture and never plastic like a work of sculpture or architecture or like a stage. Yet this is knowledge and not immediate impression. We have no right whatever to say that the scenes which we see on the screen appear to us as flat pictures.
...
The art of the photoplay has developed so many new features of its own, features which have not even any similarity to the technique of the stage that the question arises: is it not really a new art which long since left behind the mere film reproduction of the theater and which ought to be acknowledged in its own esthetic independence?
...
The mere enjoyment of the technical wonder as such necessarily faded away and the interest could be kept up only if the scenes presented on the screen became themselves more and more enthralling.
Ele também conta um pouco da evolução tecnológica e as diferentes invenções que traziam a curiosa ilusão de fotos em movimento. Vivendo a época em que a indústria foi se aperfeiçoando, é instrutivo entender que os padrões que hoje conhecemos foram sendo escolhidos por imperativo da própria indústria como forma de otimizar a produção. Por isso usamos determinado número de frames por segundo e o tamanho dos negativos possui alguns valores aceitáveis. Este no começo acabou se tornando uma espécie de mercado auto-regulado, pois os altos investimentos em salas e projetores precisavam conversar com diferentes produtores de filmes.
The fact that every producer tries to distribute his films to every country forces a far-reaching standardization on the entire moving picture world.
Para Münsterberg a oportunidade de poder testemunhar ao vivo o que o cinema estava se tornando é a oportunidade de ver uma nova forma de arte sendo criada e aprimorada, algo que, como ele acreditava de verdade, seria uma experiência única para os amantes da arte:
If this is really the situation, it must be a truly fascinating problem, as it would give the chance to watch the art in its first unfolding.
Ainda na análise psicológica do filme, ele entende que o cinema está emulando nossa própria mente, com as memórias fazendo esse vai-e-volta entre passado, presente e futuro, e com nossa atenção para os detalhes sendo reproduzido no cinema com o uso de close-ups (o zoom). Repare que o "cut-back" é o que chamamos hoje de flashback.
The case of the cut-back is there quite parallel to that of the close-up. In the one we recognize the mental act of attending, in the other we must recognize the mental act of remembering. In both cases the act which in the ordinary theater would go on in our mind alone is here in the photoplay projected into the pictures themselves. It is as if reality has lost its own continuous connection and become shaped by the demands of our soul.
In our mind past and future become intertwined with the present. The photoplay obeys the laws of the mind rather than those of the outer world.
The objective world is molded by the interests of the mind. Events which are far distant from one another so that we could not be physically present at all of them at the same time are fusing in our field of vision, just as they are brought together in our own consciousness.
A discussão sobre estética se torna a mais prolífica do livro, pois além de explicar o que torna as outras formas de arte... arte, há uma análise profissional sobre como o Cinema deve ser trabalhado entre os críticos, exaltando principalmente como esteticamente o importante para uma obra de arte não é imitar a vida real, mas justamente se distanciar desta, para com isso criar sua própria bolha de significado, auto-contida, com começo, meio e fim, de forma a se distanciar do cotidiano e virar uma entidade independente.
We admire the marble statue and we despise as inartistic the colored wax figures.
To imitate the world is a mechanical process; to transform the world so that it becomes a thing of beauty is the purpose of art. The highest art may be furthest removed from reality.
The work of art shows us the things and events perfectly complete in themselves, freed from all connections which lead beyond their own limits, that is, in perfect isolation.
There is no reason whatever for appreciating a mere imitation or repetition of that which exists in the world. Neither the scholar nor the artist could do better than nature or history. The value in both cases lies just in the deviation from reality in the service of human desires and ideals.
If a painter renders such a landscape with his masterly brush, he gives us only the leading movements of those branches which the storm tears, and the great swing in the curve of the wave. But those forceful lines of the billows, those sharp contours of the rock, contain everything which expresses their spirit.
The fundamental condition of art, therefore, is that we shall be distinctly conscious of the unreality of the artistic production, and that means that it must be absolutely separated from the real things and men, that it must be isolated and kept in its own sphere.
Music does not depict the physical nature which fine arts bring to us, nor the social world which literature embraces, but the inner world with its abundance of feelings and excitements. It isolates our inner experience and within its limits brings it to that perfect self-agreement which is the characteristic of every art.
Um desses momentos é quando ele compara o cientista com o artista e como ambos enxergam a realidade de formas diferentes, pois ambos estão buscando objetivos diferentes. Enquanto o cientista busca explicar as conexões do mundo, o artista busca isolar o mundo real da experiência de uma obra completa em si mesma, que satisfaz por ela mesma.
The motives which lead us to value the product of the scholar are easily recognized. He aims toward connection. He reshapes the world until it appears connected, because that helps us to foresee the effects of every event and teaches us to master nature so that we can use it for our practical achievements. But why do we appreciate no less the opposite work which the artist is doing? Might we not answer that this enjoyment of the artistic work results from the fact that only in contact with an isolated experience can we feel perfectly happy? Whatever we meet in life or nature awakes in us desires, impulses to action, suggestions and questions which must be answered. Life is a continuous striving. Nothing is an end in itself and therefore nothing is a source of complete rest. Everything is a stimulus to new wishes, a source of new uneasiness which longs for new satisfaction in the next and again the next thing. Life pushes us forward. Yet sometimes a touch of nature comes to us; we are stirred by a thrill of life which awakens plenty of impulses but which offers satisfaction to all these impulses in itself. It does not lead beyond itself but contains in its own midst everything which answers the questions, which brings the desires to rest.
We saw that the aim of every art is to isolate some object of experience in nature or social life in such a way that it becomes complete in itself, and satisfies by itself every demand which it awakens. If every desire which it stimulates is completely fulfilled by its own parts, that is, if it is a complete harmony, we, the spectators, the listeners, the readers, are perfectly satisfied, and this complete satisfaction is the characteristic esthetic joy.
Por fim, na terceira parte do livro, Münsterberg tenta juntar as duas primeiras partes em sua tese, onde ele faz uma análise curiosa e temporal sobre o Cinema. Para ele, psicólogo, o mundo real perdeu seu significado, dando lugar para o poder da mente, sua liberdade sobre o tempo e a causalidade. O Cinema é apenas uma forma de arte que exibe essa consequência do nosso mundo contemporâneo.
The massive outer world has lost its weight, it has been freed from space, time, and causality, and it has been clothed in the forms of our own consciousness. The mind has triumphed over matter and the pictures roll on with the ease of musical tones. It is a superb enjoyment which no other art can furnish us.
Quando ele explica porque a projeção de filmes não é 3D, mas como seria possível implementar. E de fato já foram feitas várias tentativas de embalar o espectador em um 3D "real" antes dos nossos últimos óculos:
The landscape is taken from two different points of view, once from the right and once from the left. As soon as these two views are put into the stereoscope the right eye sees through the prism only the view from the right, the left eye only the view from the left. We know very well that only two flat pictures are before us; yet we cannot help seeing the landscape in strongly plastic forms.
It may be said offhand that even the complete appearance of depth such as the stereoscope offers would be in no way contradictory to the idea of moving pictures. Then the photoplay would give the same plastic impression which the real stage offers. All that would be needed is this. When the actors play the scenes, not a single but a double camera would have to take the pictures. Such a double camera focuses the scene from two different points of view, corresponding to the position of the two eyes. Both films are then to be projected on the screen at the same time by a double projection apparatus which secures complete correspondence of the two pictures so that in every instance the left and the right view are overlapping on the screen. This would give, of course, a chaotic, blurring image. But if the apparatus which projects the left side view has a green glass in front of the lens and the one which projects the right side view a red glass, and every person in the audience has a pair of spectacles with the left glass green and the right glass red -- a cardboard lorgnette with red and green gelatine paper would do the same service and costs only a few cents -- the left eye would see only the left view, the right eye only the right view. We could not see the red lines through the green glass nor the green lines through the red glass. In the moment the left eye gets the left side view only and the right eye the right side view, the whole chaos of lines on the screen is organized and we see the pictured room on the screen with the same depth as if it were really a solid room set on the stage and as if the rear wall in the room were actually ten or twenty feet behind the furniture in the front. The effect is so striking that no one can overcome the feeling of depth under these conditions.
Depth and movement alike come to us in the moving picture world, not as hard facts but as a mixture of fact and symbol. They are present and yet they are not in the things. We invest the impressions with them.
Um interessantíssimo experimento com linhas, provando que é a mente humana que completa as lacunas entre duas imagens, imaginando assim o movimento (mesmo que inexistente de forma objetiva no mundo real):
The recent experiments by Wertheimer and Korte have gone into still subtler details. Both experimenters worked with a delicate instrument in which two light lines on a dark ground could be exposed in very quick succession and in which it was possible to vary the position of the lines, the distance of the lines, the intensity of their light, the time exposure of each, and the time between the appearance of the first and of the second. They studied all these factors, and moreover the influence of differently directed attention and suggestive attitude. If a vertical line is immediately followed by a horizontal, the two together may give the impression of one right angle. If the time between the vertical and the horizontal line is long, first one and then the other is seen. But at a certain length of the time interval, a new effect is reached. We see the vertical line falling over and lying flat like the horizontal line. If the eyes are fixed on the point in the midst of the angle, we might expect that this movement phenomenon would stop, but the opposite is the case. The apparent movement from the vertical to the horizontal has to pass our fixation point and it seems that we ought now to recognize clearly that there is nothing between those two positions, that the intermediate phases of the movement are lacking; and yet the experiment shows that under these circumstances we frequently get the strongest impression of motion. If we use two horizontal lines, the one above the other, we see, if the right time interval is chosen, that the upper one moves downward toward the lower. But we can introduce there a very interesting variation. If we make the lower line, which appears objectively after the upper one, more intense, the total impression is one which begins with the lower. We see first the lower line moving toward the upper one which also approaches the lower; and then follows the second phase in which both appear to fall down to the position of the lower one. It is not necessary to go further into details in order to demonstrate that the apparent movement is in no way the mere result of an afterimage and that the impression of motion is surely more than the mere perception of successive phases of movement. The movement is in these cases not really seen from without, but is superadded, by the action of the mind, to motionless pictures.
Outra famosa passagem, onde ele explica que às vezes no Cinema é possível escolher atores não-profissionais, já que o que melhor traduz o personagem é sua persona física (e não podemos evitar de fazer a comparação com os famosos atores de um personagem só que fazem filmes de ação, como os Bruce Willis e Jason Stahan da vida):
More easily than the stage manager of the real theater he can choose actors whose natural build and physiognomy fit the rôle and predispose them for the desired expression. The drama depends upon professional actors; the photoplay can pick players among any group of people for specific rôles. They need no art of speaking and no training in delivery. The artificial make-up of the stage actors in order to give them special character is therefore less needed for the screen. The expression of the faces and the gestures must gain through such natural fitness of the man for the particular rôle. If the photoplay needs a brutal boxer in a mining camp, the producer will not, like the stage manager, try to transform a clean, neat, professional actor into a vulgar brute, but he will sift the Bowery until he has found some creature who looks as if he came from that mining camp and who has at least the prizefighter's cauliflower ear which results from the smashing of the ear cartilage. If he needs the fat bartender with his smug smile, or the humble Jewish peddler, or the Italian organ grinder, he does not rely on wigs and paint; he finds them all ready-made on the East Side. With the right body and countenance the emotion is distinctly more credible. The emotional expression in the photoplays is therefore often more natural in the small rôles which the outsiders play than in the chief parts of the professionals who feel that they must outdo nature.
Aqui ele lamenta que, mesmo para o público comum, o cinema não é arte "de verdade", mas apenas uma tentativa de emular o teatro:
We have heard this message, or if it was not expressed in clear words it surely lingered for a long while in the minds of all those who had a serious relation to art. It probably still prevails today among many, even if they appreciate the more ambitious efforts of the photoplaywrights in the most recent years. The philanthropic pleasure in the furnishing of cheap entertainment and the recognition that a certain advance has recently been made seem to alleviate the esthetic situation, but the core of public opinion remains the same; the moving pictures are no real art.
# Como é Cruel Viver Assim
Caloni, 2018-08-28 <cinema> <movies> [up] [copy]Um "pai de família" procura um emprego de taxista. E nem como taxista ele é aceito. Então ele caminha pela rua, observa os transeuntes em uma praça, e avista uma senhora idosa vendendo alguma coisa de aspecto sujo em uma forma levantada pelo seu único braço. O outro braço ela não tinha. Ele tem um insight, e decide que precisa fazer um sequestro para conseguir ter meios para viver.
O filme de Julia Rezende baseado na peça de Fernando Ceylão (que assina o roteiro) não deixa de ser teatral, por ter muitas falas, embora os cenários e a movimentação estilo "câmera na mão" aliado a enquadramentos distorcidos daquelas pessoas tentem tornar a história mais dinâmica e mais caricata. Consegue parcialmente. Quem completa é a fotografia de Dante Belluti, que narra uma comédia usando tons opacos que deixam o humor triste.
Isso porque, apesar de ser comédia, "Como é Cruel Viver Assim" tenta ao mesmo tempo ser uma crítica social sobre as injustiças do mundo. Conseque parcialmente. As interpretações inspiradas de Silvio Guindane, como o Primo (esse é o apelido dele) do protagonista que mora com a mãe protetora e tem problemas de temperamento, e de Fabiula Nascimento, como Clivia, a esposa amorosa que faz comentários aleatórios a qualquer hora do dia, pincelam de maneira tão carismática e realista aquele mundo de desajustados tentando sobreviver que ambos já valem o ingresso.
Esta é uma história que você já viu tantas e tantas vezes: filme de sequestro. O planejamento, o contato com o pessoal do crime e, obviamente, quando as coisas dão errado. É por isso que essa pincelada de realidade brasileira, ou melhor dizendo, carioca, é tão vital para tornar o resultado acima da média. Se bem que, vez ou outra, a história tropece em momentos onde o humor escracha, como uma ponta de Otávio Augusto como "O Velho" que tenta ser uma caricatura de Poderoso Chefão de pobre, sentado imponente na metade de uma banheira acariciando um gato mais bem cuidado do que ele. E é uma ponta porque, veja bem, O Velho aparece e some da história em uma cena.
A parte mais corajosa do filme é seu final, inesperado e que faz o espectador refletir por mais tempo que todo o resto. É um final que nos avisa que esta foi apenas uma janela na vida daquelas pessoas, que vão continuar vivendo nessa tragicomédia leve até o final de suas vidas.
# A Luta do Século
Caloni, 2018-08-29 <cinema> <movies> [up] [copy]A luta é do século. No caso, o século 21. Estamos diante de dois rivais clássicos da luta de boxe do nordeste brasileiro. Todo Duro e Holyfield são os ícones mais desconhecidos que já se teve história no esporte, e ao mesmo tempo possuem a rixa mais incompreensível. Regionalistas e com uma primeira luta com desfecho surpreendente, o desfecho dessa história é mais surpreendente ainda.
Mas nem por isso o diretor/roteirista deste documentário Sérgio Machado (do fraco Quincas Berro d'Água) aproveitou a história deste dois boxeadores para traçar a obra do destino de maneira mais catártica. Machado resume a história com uma narração em off burocrática e em ordem cronológica, onde o maior presente é a reunião dos vídeos dos dois brigando, dentro e fora dos ringues. A edição é completa, ritmada, mas não possui um ponto de vista. Talvez o filme tente não dar preferência a nenhum dos dois campeões, mas com isso perde um pouco do que torna uma história boa de se ouvir: a parcialidade dramática.
O campeão pernambucano Luciano Todo Duro venceu a primeira das lutas com seu adversário em pontuação polêmica. Desde então ele vem provocando seu desafeto, o baiano Reginaldo Holyfield, famoso em qualquer periferia de Salvador em que ele passe. Ambos são fanfarrões lendários e falam tanto quanto lutam. Ambos chegaram próximo do título mundial dos supermédios (na época um peso intermediário entre o médio e o pesado), além de terem ganho os torneios continentais de sua categoria. Ambos passaram por momentos de superação em suas humildes infâncias, além de eventos traumáticos em sua história de vida. É bonito de ver esses dois hoje tios ainda se digladiando com palavras cheias de farpa e exalando ainda saúde e agilidade.
Seguindo a tradição em filmes de boxe no Cinema, onde a história nunca é sobre o boxe em si, A Luta do Século é sobre essa rivalidade, e acompanha os melhores momentos da eterna peleja entre esses dois. Ninguém poderia documentar corretamente esta trajetória senão um cineasta nordestino. Machado é baiano e mesmo assim ele não pende para o lado de Holyfield, preferindo colocar o drama cinematográfico desses dois acima de tudo. E isso, se formos pensar, é a força e a fraqueza deste curto e interessantíssimo documentário.
# GetArg: the ultimate badass argv/argc parser
Caloni, 2018-08-30 <computer> [up] [copy]Sim, eu acho que já resumi o suficiente meu parseador de argv/argc no meu último artigo sobre o tema. Sim, eu também acho que a versão com STL bonitinha (mas ordinária). A questão agora não são as dependências, mas o uso no dia-a-dia: precisa ter o argc nessa equação?
A resposta é não. Pois, como sabemos, o padrão C/C++ nos informa que o argv é um array de ponteiros de strings C que termina em nulo. Sabemos que ele termina, então o argc é apenas um helper para sabermos de antemão onde ele termina. Mas quando precisamos, por exemplo, passar o argv/argc para uma thread Windows, que aceita apenas um argumento mágico, talvez minha versão antiga não seja tão eficaz, pois isso vai exibir que eu aloque memória de um struct que contenha ambas as variáveis, etc. Por que não simplesmente utilizar apenas o argv?
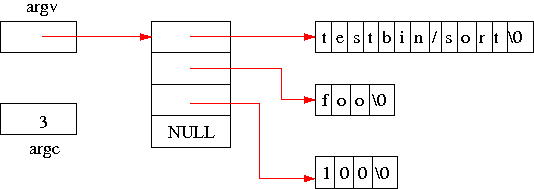
#include <string.h>
#include <stdio.h>
/** Interpreta argumentos da linha de comando (versão raiz truzona).
@author Wanderley Caloni <wanderley.caloni@bitforge.com.br>
@date 2018-08
*/
const char* GetArg(char* argv[], const char* arg)
{
while( *++argv )
{
if( strcmp(*argv, arg) == 0 )
{
if( *(argv+1) )
return *(argv+1);
else
return "";
}
}
return NULL;
}
int main(int argc, char* argv[])
{
printf("Type enter to start...");
getchar();
if( GetArg(argv, "--debug") )
printf("Waiting for debugger...\n");
if( const char* command = GetArg(argv, "--command") )
printf("Command %s received\n", command);
}
Nessa versão elminamos a necessidade do argc e de brinde ganhamos a possibilidade de usar um único ponteiro como start de um parseamento de argumentos.
[2018-07] [2018-09]